
A GRANDE ORQUESTRA DOS ANIMAIS
Texto de Bernie Krause
Bichos e engenhos, ilustrações de Nicoleta Sandulescu
O músico e ecologista sonoro Bernie Krause conta como os sons da natureza permitem uma compreensão refinada das interações entre animais, árvores, rochas, ventos, águas — e humanos. Versão adaptada pela PISEAGRAMA de texto original do livro A grande orquestra da natureza, publicado no Brasil pela editora Zahar e traduzido por Ivan Weisz Kuck.
Na minha infância em Detroit, quando queriam escutar algo que fugisse da azáfama ritual da vida cotidiana, meus pais, amigos e família recorriam à música. E, na minha presença, costumavam escolher formas compreendidas dentro de uma faixa tida como apropriada para ouvidos jovens e impressionáveis, uma seleção pretensiosa de clássicos e uma pitada de jazz. Já os ruídos externos que penetravam em nosso ambiente eram tolerados, mas não acolhidos.
Meu primeiro padrão auditivo surgira da oposição entre certos tipos específicos de música e o ruído irritante; portanto, imagine meu espanto quando descobri por conta própria – deitado sozinho no quarto nas noites de primavera e verão – que os organismos vivos do lado de fora estavam cantando melodias que se mesclavam como partes de um coral. Aquilo era um segredo só meu e eu tinha certeza de que ninguém mais entenderia.
Só bem mais tarde compreendi que cada ser vivo tem uma assinatura sonora única. Por exemplo, um vírus, quando se desprende da superfície a que estava fixado, gera um pico sonoro – uma mudança de amplitude seca e rápida, mensurável apenas pelos instrumentos mais sensíveis. No outro extremo, temos os gemidos e os estalos de baixa frequência – bem abaixo do que o ouvido humano é capaz de detectar – do maior dos animais que vivem neste planeta, a baleia-azul.
Em um de meus primeiros empregos em Hollywood, fui contratado como parte da equipe de som de um filme B. Querendo que eu me demitisse, o diretor me exilou em Iowa com a incumbência de gravar o som do milho crescendo. Sua intenção era me ver longe do set de filmagem, pois, como explicou, não precisava de dois técnicos de gravação, e por trabalhar sob um contrato coletivo eu não podia ser demitido. Assim, parti determinado a cumprir minha missão. Passei a noite toda obedientemente sentado no meio de um milharal, a cerca de oitenta quilômetros a oeste de Des Moines, com um microfone apontado para um pé de milho. Ocorre que o caule da planta, em sua expansão telescópica, range e estala em staccato, lembrando o som de mãos secas se esfregando em movimentos rápidos e bruscos na borracha de um balão de aniversário bem cheio. O som do milho crescendo.
Já ouvi muita gente dizer que a voz das criaturas depende de seu tamanho – os bichinhos menores teriam vozes fraquinhas e suaves, enquanto os maiores seriam mais barulhentos. Mas esse mito não resiste a uma escuta mais atenta. A perereca-do-pacífico do lado de fora do meu quarto é mais ou menos do tamanho da unha do meu dedo mindinho. Seu chamado pode ser ouvido a mais de cem metros de distância. Certa noite, na primavera, sua voz alcançou 80 dBA a três metros! Nas florestas do Equador, há filhotes de abutre tão pequenos que caberiam na palma da mão, mas cujos gritos são tão potentes e terríveis que ficariam bem num filme de terror. Por outro lado, muitos animais de grande porte têm vozes relativamente fracas – por exemplo, a baleia-cinzenta, a anta, a capivara e o tamanduá. Quando se trata de sons naturais, não há muitas regras.
As anêmonas produzem sons incomuns, embora não façamos a menor ideia de como ou por que o fazem ou dos significados destes sons para outros organismos. Em uma expedição às paisagens sonoras do sudeste do Alasca, meu grupo encontrou uma poça de maré repleta de cracas, cantarilhos – que nadavam em disparada de um lado para outro à procura de um esconderijo –, caranguejinhos, mexilhões e algumas anêmonas de cores vistosas. Uma delas, cuja boca, isto é, a cavidade central, passava dos doze centímetros, parecia perfeita para a realização de um experimento. Com toda a delicadeza, introduzi um hidrofone na abertura. A extremidade do instrumento foi sorvida de imediato para o interior do corpo roliço da criatura, enquanto os tentáculos envolviam o restante do objeto, em busca de algo nutritivo. Não havendo encontrado nenhum valor nutricional, a anêmona expeliu o hidrofone, soltando grunhidos altos e obscenos. Se até as anêmonas emitem sons, será que isso também não aconteceria com outras criaturas por nós negligenciadas?
O que faz com que as girafas, que até pouco tempo atrás pensávamos ser bastante silenciosas, vocalizem em frequências tão baixas que não conseguimos ouvi-las sem o uso de aparelhos? Será que essa foi a única faixa de frequências que encontraram desocupada? Seria a escolha desses canais vazios necessária para se fazerem ouvir por outras girafas? De modo geral, as respostas de que dispomos para perguntas como essas são todas parciais. Estamos apenas começando a compreender que temos muito a ganhar com a escuta criteriosa dos sons naturais da terra e de seus habitantes não humanos.
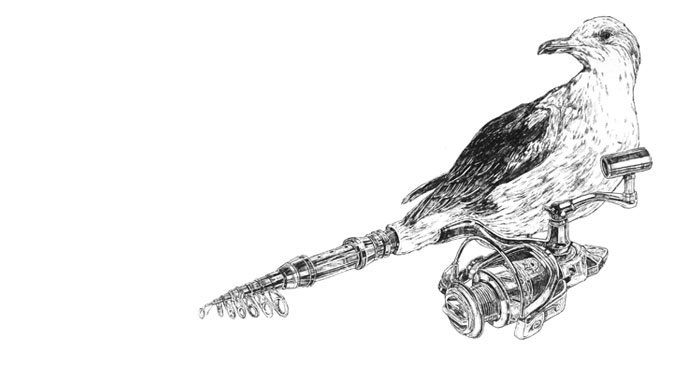
No início, quando ainda eram em pequeno número, os organismos dotados de sensibilidade acústica precisavam apenas filtrar o pano de fundo geofônico para perceber outros seres produtores de som em seu hábitat. Com o aumento na quantidade e complexidade das espécies, surgiu a necessidade de ouvir e processar sons específicos. Ao longo de muitos períodos glaciais, em especial dos mais recentes, o número total de criaturas se multiplicou exponencialmente, com novas espécies preenchendo os nichos biológicos disponíveis. Surgiram hábitats mais ricos, capazes de abrigar formas de vida mais complexas, cujos comportamento e sobrevivência – tanto individual quanto coletiva – eram determinados em larga medida por estímulos não apenas visuais, olfativos e táteis, mas também sonoros.
Os sistemas fisiológicos que evoluíram para captar o som constituem apenas o primeiro estágio no processo da audição. O organismo precisa ainda decodificar os sinais recebidos, tornando-os aproveitáveis. A vida de um ser dotado de sensibilidade acústica depende de sua capacidade de interpretar as menores nuances de dados auditivos complexos e determinar se o ambiente é seguro ou não.
Como todos os seres sensíveis que se orientam pela audição, nós também detectamos uma série de assinaturas sonoras. Algumas trazem informações úteis que denominamos sinal; outras se compõem de fragmentos de sons indesejados e sem conexões, que chamamos de ruído. A maior parte do som que nos chega aos ouvidos contém, é claro, uma mistura de ambos. Quando vivemos em sociedades industriais, estamos tão pouco acostumados a escutar as vozes da natureza que deixamos escapar os indicadores que nos informam sobre o que ocorre ao alcance de nossos ouvidos. Se soubéssemos ler os mínimos sinais que compõem a narrativa acústica, teríamos uma noção melhor da energia dinâmica de cada hábitat.
A maioria de nós ouve o barulho dos grilos, dos gafanhotos, dos sapos e de diversos insetos como uma cacofonia ou mero ruído. É muito difícil extrair informações úteis desse aglomerado sonoro. Porém, quando escutamos com atenção, começamos a distinguir uma fartura de dados transmitidos pelas criaturas. Quando as crianças da vizinhança passam por aqui nas noites de verão, gosto de lhes propor um jogo, perguntando: “Quem sabe como os grilos nos dizem a temperatura?”
O andamento da estridulação – isto é, o número de pulsos num dado período – depende da temperatura ambiente, que afeta a temperatura corporal desses insetos de sangue frio. Se prestarmos mais atenção, perceberemos que, quando os dias quentes começam a esfriar, os sons gerados pelos grilos não estão sincronizados. Esses seres produzem som friccionando as asas, isto é, estridulando. Em uma de suas asas, há um raspador; na outra, a lima. O som é produzido quando a asa contendo o raspador roça a outra que contém a lima. A irregularidade nos intervalos entre os cricridos ocorre porque a temperatura do solo varia dependendo da localização do inseto. Áreas mais sombreadas ficam mais frias do que as que foram expostas ao sol direto, de modo que os grilos situados nas primeiras cricrilam mais devagar do que os das últimas. Mas, com o correr da noite, as temperaturas se igualam e todos os grilos passam a esfregar as asas em perfeita sincronia.
Podemos até determinar a temperatura pela contagem do número de cricridos de certas espécies de grilos. No caso do Oecanthus fultoni, por exemplo, podemos contar o número de estridulações durante um período de oito segundos, somar 40 a esse número, e obteremos a temperatura em graus Fahrenheit. Para outras espécies, há fórmulas diferentes que também são fáceis de calcular (isto é, basta somar o número de pulsos registrados em oito segundos a um determinado número que varia de acordo com a espécie).

O trabalho com sons da natureza me levou à Austrália e ao sul do Equador, onde tive contato com as paisagens sonoras ainda conservadas dos territórios dos Pitjantjatjara e dos Jivaro, respectivamente. Os Pitjantjatjara habitam os desertos da Austrália Central e se deslocam pelo que, para quem olha de fora, é um terreno plano e indiferenciado. Assim, era de esperar que se servissem mais de sinais visuais do que de indicadores auditivos. Seu mundo, porém, é, em larga medida, caracterizado pelo som da biofonia, que serve como guia ou mapa. “Siga nessa direção até escutar as formigas verdes cantando, então, quando o canto cessar, siga outra voz (e assim sucessivamente) até chegar aonde quer”. As andanças desse povo têm o rumo ditado, ao menos em parte, pelas mudanças na paisagem sonora.
Os Jivaro, que habitam a Bacia Amazônica e se referem a si mesmos como Shuar, ouvem a biofonia de uma maneira muito diferente daquela dos Pitjantjatjara. A dessemelhança entre as duas paisagens sonoras é extrema: o silêncio assombroso do panorama desértico dos Pitjantjatjara só é quebrado pelas sutilíssimas assinaturas sonoras do vento, da terra e de uma ou outra criatura, já o bioma coletivo dos Jivaro, onde os animais nunca se calam de todo, é um dos locais de maior riqueza acústica no planeta.
Tal como ocorre com outras tribos que vivem em lugares remotos, as conexões dos Jivaro e dos Pitjantjatjara com as paisagens sonoras naturais mudam rapidamente à medida que o contato com a cultura industrial se torna mais frequente e necessário. Contudo, na minha única visita, pouco antes de os Jivaro se tornarem mais integrados a uma economia monetária, pude acompanhar um grupo de homens numa rara caçada noturna. Logo descobri que eles encontravam o caminho em meio à vegetação densa sem usar tochas e sem enxergar direito o céu noturno, guiando-se principalmente por mudanças sutis nos sons da floresta. Com uma precisão impressionante, eram capazes de seguir animais que não viam, acompanhando as mínimas variações de articulação de anuros e insetos.
Quando eu estava à procura de um termo que definisse os sons animais dos espaços selvagens, todas as expressões me pareciam acadêmicas ou obscuras. No domínio dos ruídos humanos, a linguagem era ainda mais abstrusa, com expressões como ruído antropogênico. Nada servia muito bem. Foi então que, por acidente, me deparei com um prefixo e um sufixo gregos que eram exatamente o que eu estava procurando: bio, que significa “vida”, e fonia, que se refere ao “som”. Biofonia, a sonoridade dos organismos vivos.
Além das indicações auditivas contidas nas paisagens sonoras, a biofonia como um todo pode nos dar informações valiosas sobre a saúde de um hábitat. Em um ambiente natural inalterado, a riqueza e a composição das paisagens sonoras variam conforme a estação, a hora do dia e as condições meteorológicas. Os elementos orgânicos e não biológicos característicos de determinada área atuam em um equilíbrio delicado, conferindo a cada lugar sua definição acústica, mais ou menos do mesmo modo que cada um de nós tem sua voz, seu sotaque e seu jeito de falar.
Há mais de vinte anos, perguntei a um biólogo que trabalhava para uma grande madeireira se a empresa me concederia permissão para gravar numa “área de manejo florestal” nas montanhas de Sierra Nevada, onde a corporação obtivera uma concessão para iniciar a extração seletiva de madeira em terras públicas. O local: Lincoln Meadow, em Yuba Pass, a cerca de três horas e meia a leste de São Francisco. Cortada ao meio por um rio e com pouco mais de um quilômetro de extensão e quatrocentos metros de largura, a campina era circundada por vários tipos de pinheiros e abetos, além de algumas sequoias. Na primavera, podíamos ouvir diversas espécies de anuros. Era um lugar sonoro e encantador.
Em reuniões promovidas, o biólogo e sua equipe garantiram à comunidade que os novos métodos de extração seletiva da empresa – cortar apenas um punhado de árvores aqui e ali deixando de pé a maioria das antigas sequoias saudáveis – não provocariam nenhum dano ao hábitat. Pedi que me concedessem acesso ao local para fazer gravações tanto antes quanto depois da operação.
No solstício de verão de 1988, com o consentimento da madeireira, instalei meu sistema na campina e registrei a requintada paisagem sonora do amanhecer, expressada por uma ampla variedade de animais. Nessa primeira gravação estavam presentes pica-paus do gênero Sphyrapicus, codornas e pardais, além de diversos e numerosos insetos.
Um ano depois, encerrado o processo extrativo, voltei a Lincoln Meadow no mesmo dia do mesmo mês, à mesma hora e sob as mesmas condições meteorológicas para gravar de novo. Quando cheguei, fiquei contente em ver que quase nada parecia haver mudado. Porém, bastou pressionar o botão de gravar para perceber que a antes tão sonora voz da campina havia se calado.
Sumiram a densidade e a diversidade vigorosa dos pássaros. Também havia sumido a riqueza que preenchia todo o ambiente no ano anterior. Os únicos sons que se destacavam eram o do rio e o martelar de um pica-pau. Saindo dos limites da área mais aberta, caminhei algumas centenas de metros floresta adentro e ficou evidente que a madeireira provocara uma incrível devastação um pouco além do campo de visão de quem estava na campina, com extensos trechos de solo exposto. Ainda que nem toda a floresta tenha sido derrubada, o número de árvores retiradas era maior do que o prometido. Ao longo das duas últimas décadas, voltei diversas vezes ao mesmo ponto, na mesma época do ano, mas a vitalidade acústica captada antes da extração ainda não havia sido recuperada.
Visto por olhos humanos, tão facilmente enganáveis – ou através das lentes de uma câmera –, o lugar ainda parece selvagem e intocado. Em uma foto, cujas possibilidades de enquadramento são quase ilimitadas, podemos, dependendo do que queremos captar naquela fração de segundo, despertar reações que vão do deslumbramento ao horror. A fotografia funciona muito bem para retratar animais isolados, ignorando as comunidades complexas de que precisam para sobreviver, atuando, portanto, como uma forma de distorção tolerada.
Mas, mesmo que curta, uma gravação não editada, bem captada, com ajustes corretos e abrangentes, não mente. As paisagens sonoras naturais estão repletas de informações ricas em detalhes e, embora uma imagem possa valer mais do que mil palavras, um panorama acústico vale mais do que mil imagens. Fotos representam fragmentos bidimensionais do tempo – eventos limitados pela luz, pela sombra e pelo alcance das lentes. As gravações da paisagem sonora, quando bem-feitas, são tridimensionais, dando a impressão espacial de profundidade, e, com o correr do tempo, podem revelar os menores detalhes e o desenrolar de histórias que os meios visuais jamais captariam sozinhos.
Nos ambientes marinhos, os recifes de coral contam uma história muito parecida com a da campina. Há algum tempo, fui a Vanua Levu, em Fiji, para gravar recifes que ainda estavam vivos, produzindo e abrigando uma abundância de organismos. Lá, fiz uma descoberta incomum ao me deparar com um recife extenso o suficiente – quase um quilômetro – para conter tanto uma porção viva quanto outra morta. Quando mergulhei um hidrofone pela lateral do barco para registrar a parte que ainda vivia, pude escutar e gravar uma variedade espetacular de peixes e crustáceos, incluindo anêmonas, peixes-papagaios, peixes-cardeais, peixes-palhaços, bodiões, baiacus, peixes-fuzileiros, salmonetes, peixes-borboletas e dezenas de outros.
Na paisagem sonora de uma porção quase morta e gravemente danificada do mesmo recife ainda podemos ver a ação das ondas abaixo de 1 kH, mas quase todos os peixes se foram e tudo o que resta da biofonia marinha são alguns camarões-pistola. Devido ao aquecimento das águas, a alterações no pH e à poluição, essa perda sonora acompanha a morte de muitos recifes de coral em todo o mundo.
Densidade e diversidade são indicadores bioacústicos fundamentais quando correlacionados com a estação do ano, o clima e o horário. Se pudermos estabelecer padrões para cada ambiente, ajustados de acordo com condições conhecidas e reprodutíveis – como fiz em Lincoln Meadow e no recife de coral em Fiji –, as informações registradas formarão uma base em comparação com a qual os registros posteriores poderão ser mais bem avaliados. Sempre tive o cuidado de gravar pensando nas comparações futuras. Quando feitas da maneira correta, tais gravações nos permitem determinar uma faixa dinâmica de variação acústica esperada e medir a concentração e a variedade de animais sob uma série de condições distintas.
Poderíamos, por exemplo, nos perguntar: em um amanhecer claro no final da primavera, logo antes de o nascer do sol, em um ambiente remoto e quase intocado de floresta tropical, que tipo de paisagem sonora devemos esperar? Se gravarmos continuamente durante uma semana e repetirmos essas gravações por alguns anos para compensar os efeitos das chuvas, do vento e da temperatura – considerando que a flora e a paisagem circundante não tenham sido alteradas –, teremos uma noção muito boa.
Gravações abrangendo hábitats inteiros, como as que descrevi, registram o estado dos biomas que sofreram transformações ecológicas provocadas por intervenções humanas, como a exploração da madeira e a mineração, por mudanças climáticas ou por fenômenos naturais. Conjuntos de dados bem-coletados nos permitem estabelecer comparações mesmo com gravações que não passam de dez segundos. Tal como os anéis das árvores, esses registros funcionam como marcadores bio-históricos de múltiplos níveis. A ocorrência de ciclos naturais, desastres ou intervenções humanas destrutivas é expressa rápida e intensamente por mudanças na biofonia. O coletivo vivo de organismos sonoros reage de maneira correspondente às mudanças. Os animais não humanos tentam recalibrar suas vozes acomodando-se às circunstâncias alteradas. Os espectrogramas resultantes exibirão muito menos densidade e diversidade ou se mostrarão mais caóticos – isto é, repletos de informações dissociadas e conflitantes –, com quase nenhuma distinção entre as vozes, se é que haverá alguma.
Cada bioma do planeta, seja urbano, rural ou ainda selvagem, se expressa por sequências e padrões bioacústicos específicos. As mudanças climáticas podem ser uma das razões pelas quais os padrões biofísicos estão começando a se transformar rapidamente – alguns de maneira muito mais abrupta do que a esperada. Pode haver outros fatores, como os primeiros sinais de uma alteração no campo magnético da Terra. As consequências ainda não estão muito claras, porém, se isso estiver correto, é possível que o fenômeno já esteja afetando alguns padrões migratórios. Em vários dos locais que visitei ao redor do globo nas últimas décadas, o preocupante silêncio provocado pela ação do homem sempre se mostra com muita clareza.

Nos anos 1980, um de meus sítios de gravação preferidos era um ponto sossegado, porém acessível, perto de Jackson Hole, em Wyoming. Desde o início da década, quando comecei a frequentar o local, até boa parte dos anos 1990, a biofonia permaneceu bastante inalterada – a combinação de pássaros incluía vireonídeos, mariquitas-amarelas, pardais, toutinegras, cambaxirras e papa-moscas. Em 2009, quando voltei para gravar os sons locais depois de um intervalo de cinco anos, a paisagem sonora havia sofrido uma mudança radical. A primavera começava algumas semanas mais cedo, e a mistura de aves consistia agora em tordos-eremitas, tordos-dos-pântanos, chupins, bicudos, mariquitas-de-asa-amarela, juncos e pardais – uma combinação muito diferente.
Ainda estamos longe de entender o real significado dessas mudanças. Mas elas corroboram relatos de ornitólogos de todos os Estados Unidos, que observaram alterações semelhantes em outros locais. Colegas que trabalham em regiões tão afastadas quanto a África e o Alasca relataram mudanças recentes nas combinações de aves, mamíferos e insetos em biomas como as geleiras do monte Kilimanjaro e de Glacier Bay, em processo acelerado de derretimento, e nos recifes de coral.
Estamos descobrindo que o equilíbrio dos fatores que determinam a diversidade de um bioma é extremamente frágil. A biofonia dos hábitats saudáveis tende a se enquadrar numa determinada faixa esperada, isto é, dada a variação sazonal do clima em uma região e estabilidade relativa da paisagem, os organismos que compõem a fauna local devem corresponder a um número de espécies e a uma população total previsíveis. O que percebemos é o seguinte: sempre que uma biofonia é coerente ou, como dizem alguns biólogos, “está dentro de uma faixa de equilíbrio dinâmico”, os espectrogramas acústicos gerados a partir das gravações mostram uma distinção notável entre as vozes componentes. Por outro lado, quando um bioma está comprometido, os gráficos perdem tanto a densidade quanto a diversidade, além da clara distinção de largura de banda entre as vozes, visível na representação gráfica de hábitats saudáveis.
Quando um hábitat se altera, os animais produtores de sons precisam se reajustar. Percebi também que alguns podem desaparecer, deixando lacunas na tessitura acústica. Os remanescentes têm que modificar suas vozes para se adaptar às mudanças nas propriedades acústicas da paisagem. Todas essas variações significam que o sistema natural de comunicação desenvolvido em uma paisagem sonora se desarticula e se torna caótico, até que a voz de cada criatura encontre de novo um lugar no coral. Isso pode levar semanas, meses ou, em alguns casos, anos. Em minha última visita a Lincoln Meadow, em 2009, a biofonia continuava relativamente silenciosa, com muito pouca densidade e com diversidade profundamente alterada, mesmo depois um quarto de século de recuperação.
Até a virada do milênio, o campo da bioacústica ainda se norteava pela ideia de que não havia muito mais o que descobrir para além da abstração das vozes de indivíduos isolados. A maioria dos biólogos jamais pensaria em avaliar a saúde de um bioma pela escuta e pelo estudo detalhado de sua comunidade acústica considerada como totalidade. Porém, como meus arquivos começavam a revelar, essa voz coletiva é uma reunião de múltiplas camadas importantes. As paisagens sonoras encerram narrativas multifacetadas que revelam segredos há muito guardados naquilo que Samuel Coleridge certa vez chamou de “poderoso alfabeto do Universo”.

Bernie Krause
Músico e naturalista. É doutor em bioacústica e fundador da Wild Sanctuary, organização dedicada à preservação de paisagens sonoras selvagens. Gravou mais de 4 mil horas de paisagens sonoras selvagens.
Nikoleta Sandulescu
Pintora nascida na Moldávia, estuda na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.
Como citar
KRAUSE, Bernie. A grande orquestra dos animais. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 10, p. 26-33, mai. 2017.
© Editora Zahar. Todos os direitos reservados. Este artigo não pode ser reproduzido.
Veja também
DIREITOS
NÃO HUMANOS
Texto de Paulo Tavares, Alberto Acosta, Luis Macas, Mario Melo e Esperanza Martínez
Direitos não humanos, vídeo de Paulo Tavares
A MALDIÇÃO
DOS RECURSOS
Texto de Eric Macedo
Viagem pitoresca pelo Brasil, fotografias de Cássio Vasconcellos

