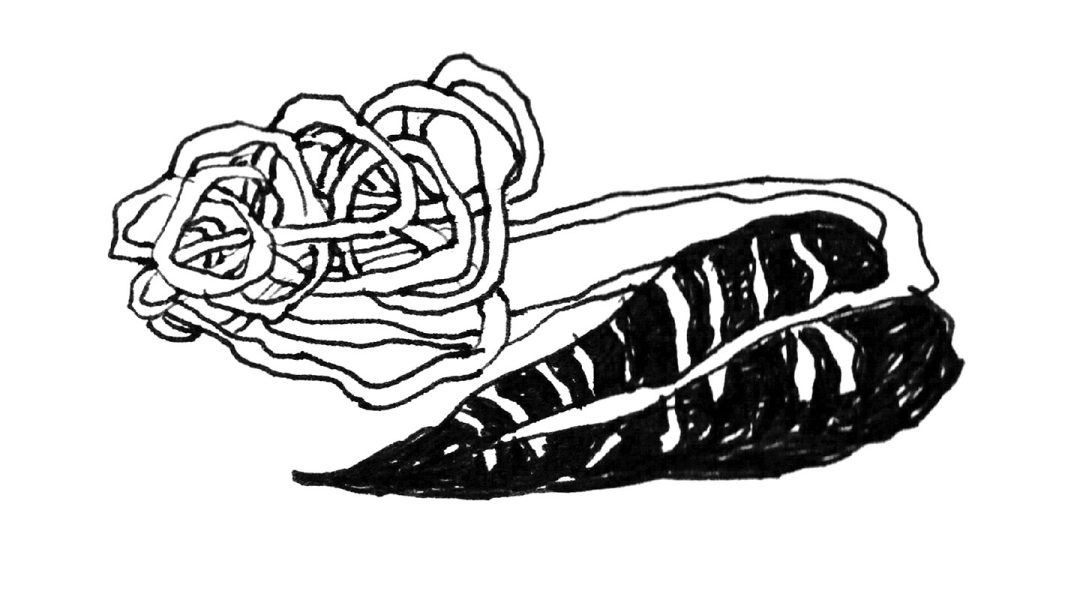
CIDADE DE
SEMENTES
Texto de Daniel Mason
Desenho de Thereza Portes
No começo do verão passado me vi negociando com a síndica do prédio a respeito de uma ameixeira que dava para a janela do meu quarto. De acordo com nosso vizinho, a árvore, que cresce numa fenda de 15 centímetros entre a parede e a entrada da garagem, estava comprometendo os carros com as frutas e os cabos de energia com os galhos. A síndica queria derrubá-la. Eu não. A árvore, que envolve toda a esquina nordeste do apartamento num teto verde escuro, transforma o quarto numa espécie de casa na árvore, de onde podemos observar ninhos de passarinhos e conferências de esquilos com um tipo de intimidade reservada aos documentários sobre a natureza. No final da primavera podemos estender o braço e colher suas frutas.
É claro que os argumentos do meu vizinho eram compreensíveis. Ninguém havia plantado aquela ameixeira. Ela era uma fugitiva de outro jardim, uma enorme erva daninha, mais especificamente falando. Se fosse deixada ali sem cuidados, suas raízes poderiam afivelar a entrada da garagem e seus galhos explodiriam as janelas. Quando venta forte, os galhos já ameaçam os vidros. Nas frestas sujas entre o concreto, sementes poderiam germinar e crescer.
Se o meu vizinho tinha essas imagens dramáticas na cabeça, eu não sei. Mas a luta entre cidade e natureza é uma ideia antiga. Basta olhar para os carvalhos crescendo nas ruínas dos monastérios nas pinturas de Caspar David Friedrich ou para a grama que se espalha na cidade decadente do poema Love among the ruins, de Robert Browning, para saber como as plantas têm sido classicamente entendidas como uma definição da morte da cidade. Quando o grande poeta chinês do século V, Bao Zhao, escreveu com pesar sobre a então decadente cidade de Guangling, ele chamou seu famoso Fu (rapsódia) de Wu¬cheng, palavra geralmente traduzida como cidade em ruínas, mas que literalmente significa cheia de mato.
“O musgo úmido se agarra nas poças, videiras selvagens emaranham o caminho.” Realmente, olhando pela minha janela, além da árvore, não era difícil ver um processo parecido acontecendo. Havia trevos crescendo na entrada e um cedro do Himalaia brotando no asfalto da cobertura da garagem. Uma planta conhecida como árvore-do-céu emergia das profundezas escuras sob outra casa da vizinhança. O amarelo explodia em mostardas no passeio e havia emaranhados de bico-de-cegonha rosa, malva e dentes-de-leão por toda parte.
Mas não se tratava simplesmente de um retorno da natureza. Não há ameixeiras nas matas nativas a 1,5 quilômetro de distância; elas são nativas do sudeste da China. Não há nenhum cedro (da Kashmira), nenhuma árvore-do-céu (do nordeste da China e de Taiwan), nenhuma malva ou bico-de-cegonha nativos na minha cidade. O que estava florescendo lá fora não era um tipo de reclame da natureza. Mas tampouco era um trabalho deliberadamente humano. Era algo diferente, único na cidade, circunscrito aos seus habitantes e inextricavelmente ligado a seu destino.
Catorze séculos depois do elogio de Bao Zhao a Guangling, o médico inglês Richard Deakin se debruçou sobre as ruínas de outra cidade e também encontrou flores. Mas o que havia sido para o poeta chinês uma fonte de pesares era para Deakin algo docemente nostálgico. Aquelas plantas, segundo ele, constituíam “um elo na memória”, e traziam “lições de esperança no meio da tristeza pelas eras que se foram”. A ocasião para as meditações de Deakin foi a publicação de Flora do Coliseu de Roma, em 1855. Ao catalogar os “objetos mais graciosos e adoráveis” – 420 espécies encontradas nas ruínas –, o autor juntava-se a uma tradição de botânica urbana que já tinha, na época, 2,5 séculos de idade.
Na obra Herball, de 1597, John Gerard mencionava plantas conhecidas como a arruda-dos-muros, a lavanda-do-mar e a parietária, que cresciam “nos cantos das igrejas” e também “no meio do lixo e de outros locais pétreos”. Pesquisas sobre plantas urbanas tinham sido publicadas em Londres, em 1632, e em Paris, em 1635. No livro Flora da Inglaterra, de1668, John Ray, o grande naturalista inglês, registrou a sisymbrium, posteriormente denominada mostarda-selvagem-de-Nápoles, que crescia nas ruínas da Catedral de St. Paul em Londres, 2 anos depois de a cidade ter sido incendiada no Grande Incêndio. Antes de Deakin encarar suas paredes, pelo menos dois outros botânicos haviam estado no Coliseu. Existia também uma flora de escombros na Palestina e na Argélia, e seria mapeada uma também no Palais d’Orsay, destruído em 1871 durante a Comuna de Paris.
Como na maioria desses trabalhos, a Flora de Deakin ressaltava as qualidades medicinais das plantas que ele encontrava. Muitos dos primeiros botânicos eram médicos procurando expandir suas farmacopeias. Ao procurar por plantas no meio de ruínas, Deakin, assim como Gerard e Ray, parecia reconhecer um estranho e importante enunciado que persiste até hoje no estudo contemporâneo da botânica urbana: a flora da cidade é essencialmente a flora da destruição da cidade.
Ao contrário do verde controlado de parques e jardins, que cresce apenas em bolsos de isolamento, as plantas selvagens da cidade – conhecidas como ruderais, do latim rudus: ruínas e escombros – precisam das fendas: as rachaduras nas calçadas, o palácio abandonado, o tecido da cidade e seus rasgos. A maioria, como a minha ameixeira, não conseguiu se estabelecer em florestas e prosperou apenas onde a terra foi violentamente perturbada.
Não é de se surpreender, então, que os grandes avanços modernos no estudo da flora das cidades tenham sido feitos em cidades destruídas pela Segunda Guerra Mundial, principalmente na Alemanha. Enquanto Ray descobria a mostarda de Nápoles nos restos do incêndio de St. Paul, um outro invasor entrava em cena em Berlim: a ambrósia-das-boticas, originária de Jerusalém, que achou o ambiente bombardeado daquela cidade favorável o bastante para se tornar onipresente em 1 ano. A ambrósia-das-boticas foi acompanhada mais tarde por outras espécies exóticas da África e da Ásia, como a árvore-do-céu, nativa da Ásia, que também cresce no Brooklyn, em Nova Iorque.
Nas clareiras abertas pelos bombardeios, os botânicos alemães encontraram uma nova ciência, um “tremendo experimento natural” que, segundo afirma um observador, “com respeito ao seu tamanho, deve ser comparado à ocupação de novos habitats criados pela atividade vulcânica”. Os planejadores urbanos falaram de uma “nova vida vinda das ruínas”, um “véu verde”, uma cura para a “psicose dos escombros das pessoas quadradas”. O espaço verde era visto como uma maneira para se desvincular do passado, um novo começo.
Assim como os botânicos alemães se espalharam pelas montanhas de escombros de suas cidades, na Inglaterra também foram encontradas observações antes impossíveis. O professor Edward Salisbury, de Kew Gardens, em seu artigo A Flora de áreas bombardeadas, datado de 24 de abril de 1943, encontrou nos locais bombardeados laboratórios perfeitos para o estudo da polinização de plantas. Mas, ao contrário das proclamações de renascimento dos alemães, Salisbury não se deteve em tais indulgências. Talvez porque a guerra ainda não tivesse terminado ou por achar a metáfora óbvia demais.
O artigo de Salisbury tratava enfaticamente de como as plantas se espalhavam: o sabugueiro, através dos excrementos de passarinhos; a tasneirinha, pelos sapatos dos pedestres; a aveia, a farinha e o trevo, pelas bolsas de alimentação dos cavalos. Em outros casos, as plantas já estavam lá, esperando pela oportunidade de florescer. Salisbury atribuiu a presença comum do tomate às ações dos homens – as sementes provavelmente teriam caído de carros de verduras ou do almoço de trabalhadores, e eram agora liberadas pela ausência da pavimentação que antes impedia seu crescimento.
Mas foi à dispersão pelo vento que Salisbury devotou sua mais cuidadosa atenção. Fascinado pelos mecanismos do voo das sementes, ele descreveu em detalhe o “paraquedas de seda” da semente do tussilago e os setenta “cabelos longos” da fireweed, espécie de mato com flores rosa, que se abrem no ar seco, mas se fecham quando o ar está úmido para formar “a bela e mais eficiente polinização via correntes de ar, perfeita para o carregamento de sementes”.
E que carregamento! Juntamente com outros botânicos, ele contou cada planta: fireweed: 80.000 sementes; tasneirinha comum: 1.100 sementes; tasna de Oxford: 15 a 20.000 sementes; tasneirinha pegajosa: 6 a 86.000 sementes; tussilago: 6 a 9.000 sementes; margarida canadense: 120 a 233.000 sementes. É difícil não ver nesses números uma inversão das listas de baixas e uma promessa de fecundidade extraordinária. As sementes flutuando, caindo devagar – Salisbury calculou que a fireweed levava mais de 1 minuto para cair 6 metros de distância –, colonizando o ar de Londres com uma flora virtual, justamente no mesmo espaço em que a força aérea alemã voara 2 anos antes.
Em seu best-seller História natural de Londres, R.S.R. Fitter conclamou o trabalho de Salisbury evocando as compensações especiais da natureza: a castanheira de cavalo que renasceu depois de ser arrancada por um bombardeio e os melros que cantaram durante as marchas. Ainda me conforta ler sobre essas expressões de resiliência. E a popularidade de História natural sugere que os londrinos do pós-guerra sentiam algo parecido. Ainda assim, para que a cidade renascesse, paradoxalmente, as plantas que anunciaram essa regeneração teriam que ser destruídas.
Dentro de poucos anos, o solo de Londres no qual surgiu a fireweed seria pavimentado. Em Berlim, alguns movimentos civis para a preservação dos espaços de verde selvagem criados pelo bombardeio eventualmente se renderam à construção de edifícios ou parques. E, mesmo naqueles cantos das cidades destruídas que ficaram intocados durante anos, essas primeiras espécies promissoras seriam substituídas por outras formas maiores e mais fortes.
Mas talvez não haja paradoxo. Tal substituição ou sucessão, para usar o termo botânico, é tão antiga quanto nossos primeiros mitos. O homem não emerge do vazio, precisamos de um estado mais “verde”. Entre Adão e o vazio, existe um jardim.
Foi com a ajuda de estudos como o de Salisbury que nosso entendimento da cidade enquanto ecossistema foi elucidado. Cidades são mais quentes, nubladas e secas que os campos à sua volta. Há mais partículas de matéria no ar e menos luz do sol. As árvores são atrofiadas e aquelas que estão em cidades que já tiveram o ar muito poluído e hoje trazem um ar mais limpo geralmente apresentam uma silhueta “urbana”: um tronco diminuído com galhos principais mais largos que avançaram quando o ar se tornou melhor.
Geralmente há menos vento, mas quase sempre ele é mais severo, com estranhas forças de desvio e redemoinhos violentos. Há uma semelhança entre os prados norte-americanos e certos descampados urbanos, ambos caracterizados pela perturbação do solo por mamíferos escavadores – os cachorros da savana e nós – e fortes rajadas de vento. O solo da cidade, embora altamente variável, é, em geral, compacto (devido ao tráfego de pedestres e à vibração pesada de veículos), alcalino (por causa da alta absorção de cálcio pela argamassa e pelo cimento) e pobre em nutrientes (com zonas isoladas de rico lixo orgânico). Assim como o ar, ele é poluído, um fator que afeta a flora diretamente, uma vez que o efeito da poluição em organismos simbióticos resulta, por exemplo, na morte de insetos dos quais as plantas dependem para a polinização.
Com o fluxo constante de pessoas e de materiais vindos do mundo todo, a cidade existe sob frequente inoculação de espécies estrangeiras, como a mostarda-de-Nápoles de Ray ou a ambrósia-das-boticas em Berlim. Tal flora expõe o comportamento humano intimamente: comemos tomates em sanduíches, preparamos sementes para passarinhos, cultivamos flores selvagens provenientes de climas estrangeiros. Usamos suéteres de lã: muitos dos invasores botânicos do século XIX vinham enterrados em pedaços de lã, uma maneira particularmente efetiva de transporte, como qualquer um que tenha usado meias quentes sobre a grama já deve ter notado.
O resultado é uma flora rica em espécies. No total, pode haver poucas plantas na cidade, mas há muito mais tipos de plantas. Há até mesmo evidências de que as demandas de uma cidade podem levar à evolução de novas espécies (embora a fronteira entre “espécies” e “variedade” seja geralmente opaca). Uma certa taxa de dente-de-leão foi encontrada apenas em locais construídos por homens, fato que sugere a evolução da planta durante algumas centenas de anos para conseguir se submeter a demandas específicas. O plátano demonstrou ser bem adaptado às demandas urbanas. Tolerante à poluição e às tesouras de poda, suas raízes são mais compactas, e pode ser encontrado em cidades de todo o mundo. É muito provavelmente um híbrido de sicômoros americanos e orientais e não possui outro habitat nativo que não seja a rua.
De acordo com a concepção clássica da ecologia de sucessão, terras perturbadas passam por diversos estágios: são desmatadas, e em seguida plantas são introduzidas, que crescem, competem e se substituem até que a flora finalmente fique estabilizada. Mas, na maioria dos casos, a flora urbana não se estabiliza. Plantas entram e crescem, mas, depois disso, há uma chance rara de progresso: elas são capinadas, cimentadas ou bombardeadas e o processo começa novamente. Esse ciclo reflete o dinamismo da cidade de várias formas. O fluxo constante, a renovação, o declínio, a resiliência do todo, apesar da morte das partes.
Em uma reportagem de John Hersey para a New Yorker, Toshiko Sasaki retorna a Hiroshima, sua cidade natal, pela primeira vez depois de passar 1 mês no hospital. A destruição a chocou, mas o que particularmente a assustou foi como “acima de tudo havia um tapete de verde fresco, vívido e otimista surgindo até mesmo das fundações das casas destruídas. As ervas já escondiam as cinzas e flores selvagens floresciam entre os ossos da cidade…
Especialmente numa área do centro, algumas plantas cresceram com extraordinária capacidade de regeneração, não apenas sobrevivendo em meio aos restos queimados da mesma espécie, mas aparecendo em novos locais, entre tijolos e em fendas no asfalto. Parecia mesmo que uma carga de plantas havia caído juntamente com a bomba”.
Em outubro de 1945, menos de 2 meses depois do bombardeio a Hiroshima, a Divisão de Ciências Biológicas do comitê especial para pesquisa e investigação de perdas por bombas atômicas conduziu a primeira de várias pesquisas acerca dos efeitos das bombas sobre as plantas e a vida animal. O relatório reforçou o que Sasaki dissera. Estimulada por uma tempestade que atingiu a cidade em 17 de setembro, a paisagem sem vida foi coberta por abóboras, rabanetes, mostardas, margaridas, glórias-da-manhã e beldroegas.
Assim como a mostarda de Nápoles de Ray, seus nomes traem sua origem estrangeira: Erigeron canadensis, Veronica persica, Phytolacca Americana. O crescimento de novas árvores foi visto em toda parte. Muitas árvores queimadas de um lado continuaram a crescer do outro e, mesmo aquelas árvores que pareciam ter sido completamente incineradas começaram a dar brotos a partir de troncos queimados, raízes e caules subterrâneos.
Hoje mais de uma centena dessas plantas permanecem, na sua maioria árvores de cânfora, enquanto a mais próxima do hipocentro é um salgueiro-chorão, a apenas 370 metros dali. Eu li que você pode perguntar a qualquer criança sobre o salgueiro, e eles vão apontar o caminho.
Lendo a descrição de Sasaki, não é difícil entender o retorno daquela flora como um milagre: bonito mas, como qualquer milagre, terrivelmente estranho. Ela sugere a existência de um mundo escondido que simplesmente aguarda uma oportunidade de expressão. Se o jardim é essencial à nossa concepção de vida humana, é na semente que ele se esconde.
Quando Salisbury escreveu sobre as 80 mil sementes da fireweed, ele provavelmente sabia que a maioria delas não germinaria de imediato. Ao contrário, elas se alojariam em abrigos e frestas microscópicos. Algumas para serem devoradas ou esmagadas e outras para serem enterradas sob o cimento, mas, a maioria delas, simplesmente para esperar.
Um metro quadrado de solo urbano pode conter milhares de sementes que persistem num estado de animação suspensa, esperando para serem acordadas do sono profundo. Depois que as brigadas de incêndio resgataram o Museu de História Natural de Londres de alemães incendiários, as sementes de albizia floresceram de seus lençóis herbários, libertadas pela combinação precisa de chamas e água após 200 anos de inatividade.
Acredito que tudo isso sugere uma outra categoria de flora urbana, para além dos jardins planejados e dos invasores selvagens de nossas estradas. É uma flora potencial e escondida, uma floresta que não entra em competição com a cidade, mas que existe ao seu lado e espera pacientemente para se tornar manifesta. Os destinos de Hiroshima, Londres e Berlim mostram como essa floresta invisível é bastante real. Geralmente vislumbramos a semente como nada mais do que a transição entre duas plantas, mas é possível conceber que a planta seja a transição entre duas sementes. É possível imaginar também a cidade sendo a transição entre duas florestas, entulho dando à luz videiras selvagens, ameixeiras e parietárias.
Daniel Mason
Biólogo e escritor, autor dos livros O afinador de piano e Um país distante, editados pela Companhia das Letras.
Como citar
MASON, Daniel. Cidade de sementes. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 6, p. 6-9, abr. 2013.
Este ensaio foi publicado originalmente em inglês na revista Lapham’s Quarterly.