
ECONOMIA
FEMINISTA
Texto de Mercedes D’Alessandro
Centoeonze, cartazes do Coletivo Metade
O que acontece quando o homo economicus esbarra com a mulher econômica? A reescrita da economia feminista na história do pensamento econômico implica batalhas simultâneas nos escritórios, nas fábricas, nos parlamentos, nos campos de futebol, na música, na cama.
Hanna Rosin, escritora e editora da revista Slate, escreveu em 2010 um artigo para a revista The Atlantic no qual previa o “ocaso dos homens”. Nele, Rosin mencionava muitos dos dados que já conhecemos: que hoje as mulheres estão mais educadas que os homens e que essa tendência está crescendo; que nos Estados Unidos elas já constituem a metade da força de trabalho; que pouco a pouco estão ocupando lugares antes impossíveis de imaginar para uma mulher (em empresas, em governos, na ciência e na tecnologia); e que, finalmente, esta tendência não é apenas irreversível, mas também tende a se fortalecer com o tempo.
Rosin faz uma observação muito interessante (e otimista): “Durante anos, o progresso da mulher se projetou como uma luta por igualdade. Mas e se a igualdade não for o ponto final? E se a sociedade pós-moderna simplesmente se adaptar melhor às mulheres?” O argumento central é que a economia do futuro não estará interessada nas características exercidas tradicionalmente pelos trabalhadores homens: tamanho e força. Estas características podem ser facilmente substituídas por gruas mecânicas, pás, máquinas genéricas. Os atributos mais difíceis de substituir são a comunicação, a inteligência social, a empatia, e nenhum deles é especialmente masculino.
Em linha com a abordagem de Rosin, há algum tempo pesquisadores que estudam temas vinculados ao emprego alertam para a necessidade de se pensar o que fazer diante da robotização. Há estudos que advertem que os computadores poderão substituir quase a metade dos trabalhos nos Estados Unidos nas próximas duas décadas (na China, mais ainda). Na Argentina, especula-se que em cerca de 15 anos os avanços tecnológicos poderão substituir quase 40% do emprego privado, e este é um cenário no qual o vento da modernização é usado a favor. Os robôs não só são capazes de realizar tarefas rotineiras ou que demandam força, mas também podem aprender: existem empresas testando-os como recepcionistas de hotel, na cozinha, para receber pacientes em hospitais e inclusive para colaborar em operações de alta complexidade. Existem máquinas que são capazes de prever doenças mentais a partir da leitura de um discurso com 99% de eficácia. No ano passado foi apresentado no Brooklyn, em Nova Iorque, um balé de robozinhos adoráveis, que dançavam ao ritmo de uma orquestra também de robôs.
Neste mundo futurista de empregos que desaparecem e de novas ocupações emergentes, as mulheres parecem levar vantagem. Como explica a economista Heather Boushey, das 15 categorias trabalhistas que devem apresentar mais crescimento na próxima década, só duas estão dominadas por homens: porteiro e engenheiro de computação. As mulheres, em compensação, lideram em enfermagem, assistência médica, cuidado de crianças. Não são trabalhos com um alto salário, mas essas trabalhadoras têm melhores perspectivas que seus pares. Quantos filmes futuristas poderíamos realizar com essa ideia!
Professoras e enfermeiras convivendo em suas rotinas de trabalho com R2-D2 e C-3PO que as ajudam. O que fariam de seus dias os milhares de homens desempregados? Tomariam responsabilidade pelos trabalhos domésticos? Haveria trabalhos domésticos? As mulheres dominariam o mundo ou um punhado de ricos donos das máquinas controlaria tudo?
O desenvolvimento das forças produtivas é um fato vivo do capitalismo, é o sangue que corre por suas veias e não algo excepcional. A robotização não é outra coisa senão a expressão do desenvolvimento do conhecimento humano colocado a serviço da produção. O grande problema aqui é o de sempre: quem se apropria dos benefícios da aplicação da ciência, da tecnologia, da expansão do nosso saber? O que pode haver de novidade nessa etapa é que a inteligência artificial talvez esteja em um ponto de inflexão.
No alvorecer do capitalismo, os operários lutavam com as máquinas que os substituiriam em sua força física; hoje essas máquinas não só podem reproduzir suas destrezas, como também se aproximam de compreender e imitar a inteligência humana… Ou ao menos esta é a fantasia que alguns têm. Cabem aqui as velhas perguntas existenciais da filosofia da ciência: O que é a inteligência? Qual parte dela é imitável? Podemos reproduzi-la?
Nos idos de 2016, a Microsoft lançou um bot que aprendia a partir de sua interação nas redes sociais. Depois de algumas horas, ele estava escrevendo comentários racistas. Cientistas da Universidade de Boston e da Microsoft publicaram, em meados de 2016, um artigo no qual contam a experiência de uma rede neural artificial que lia o site de notícias do Google News para construir um espaço de significados. O resultado deste experimento foi que a máquina reproduzia estereótipos de gênero. As mulheres eram enfermeiras, enquanto que os homens eram médicos. Elas eram donas de casa e eles trabalhavam.
Já no plano da ficção científica, Ava, a mulher robô do filme Ex Machina, tem seu cérebro artificial conectado à internet. Através de fibras óticas, nutre-se de palavras, ideias e músicas, assiste a filmes e inclusive encontra referências para escolher seu corte de cabelo e a roupa com a qual se sente melhor. Seu criador tem algumas versões anteriores dela programadas para servi-lo como gueixas eletrônicas; Ava, em seu caminho em direção à autoconsciência, consegue se rebelar contra esse destino traçado e escapa da fortaleza que testemunhou seu “nascimento”. O conflito entre o homem e a máquina é uma constante em todos os filmes futuristas, embora os mais difíceis sejam aqueles em que, ao desenvolver sua inteligência, os robôs não fazem nada além de submeter o homem a seus arbítrios e explorá-lo. Ou seja, uma projeção da vida capitalista.
“A gramática é a política por outros meios”, disse Donna Haraway em seu Manifesto ciborgue. A linguagem da ciência, da tecnologia e de nossos artefatos não está – por enquanto – separada do mundo em que vivemos. Basta dar uma volta pelo Vale do Silício para ver que quem manda no paraíso das startups é o mercado e quem decide o aplicativo da moda do próximo mês é a cotação em Wall Street.
Antes de cantar vitória por uma suposta força equalizadora entre mulheres e homens como resultado da robotização, poderíamos pensar em como podemos nos desfazer de uma antiga divisão do trabalho – vigente até quando imaginamos o futuro – e colocar essa tecnologia do nosso lado e não contra nós.
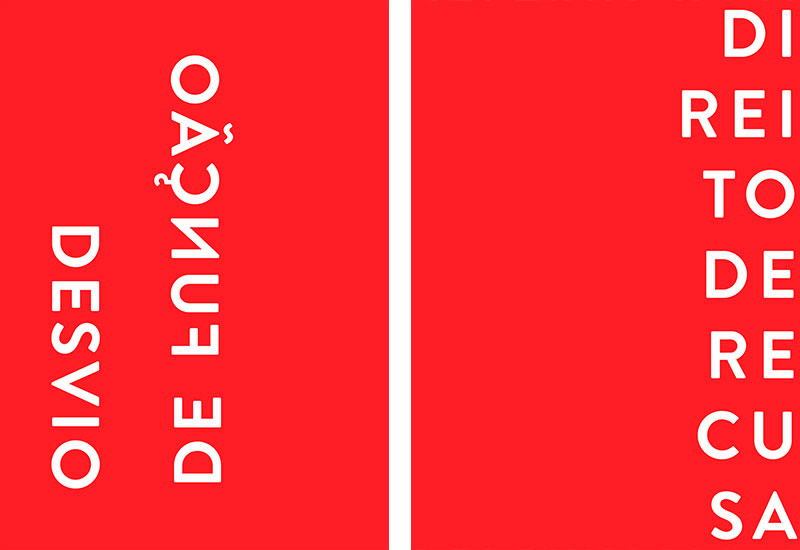
Uma vez, alguém me questionou: “Se os empresários podem pagar menos para as mulheres, então contratariam mais mulheres do que homens, e garantiriam mais dinheiro. O capitalismo já teria resolvido isso.” A princípio, nunca deixa de me chamar a atenção como pessoas que vivem submersas em um mundo de desigualdades e injustiças podem ter tanta certeza de que o capitalismo é eficiente e resolve seus desequilíbrios como que por magia. Mesmo que eu acreditasse que o capitalismo funciona, poderia salientar que pode levar muito tempo para resolver certos problemas. Pelo menos no que diz respeito às desigualdades salariais entre homens e mulheres, já se passaram algumas centenas de anos e não há sinais de que isso vá mudar substancialmente em curto prazo. Além disso, há muitos fatores no mercado de trabalho que fazem com que as mulheres ganhem menos que os homens pelo mesmo trabalho, fato que se repete em todo o planeta.
Parte das desigualdades salariais pode ser explicada por fatores claros, objetivos e passíveis de medição. Se alguém tem um nível de educação mais alto, mais preparação ou experiência para um cargo, parece lógico que esta pessoa ganhe mais que seus companheiros que não os têm. Posso explicar que Luís ganha mais que Mariana porque fez uma pós-graduação e já trabalha na empresa há três anos, enquanto ela acaba de ingressar e é o seu primeiro emprego. Mas se a comparo com Juan, que também é novo e recém-saído da universidade, e se acontece dele ter um salário maior, temos que indagar o que pode estar ocorrendo. O que acontece se isolamos todos os fatores que podem justificar as desigualdades salariais entre homens e mulheres?
Um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) analisou informações de 38 países que compararam a renda dos trabalhadores. O estudo levava em conta trabalhadores com os mesmos graus de educação, experiência, tipo de ocupação, categoria profissional, zona de residência e tempo de trabalho por mês e por semana. Considerando apenas essas características (lacuna explicável), descobriram que a lacuna deveria ser invertida: se não existisse o resto – esse lado obscuro que mencionávamos antes (a lacuna não explicável) –, as mulheres deveriam ganhar mais do que os seus companheiros homens em pelo menos 19 dos casos estudados, incluindo o Brasil.
Em resumo, para todos os estudos e diferentes medições, considerando que tenham similaridades no que diz respeito a educação, experiência, horas trabalhadas e demais variáveis que influenciam nas decisões do mercado de trabalho, as mulheres ganham menos que os homens; as que têm filhos ganham menos que as que não têm filhos; as mulheres negras, indígenas e camponesas ganham menos que as brancas.
São chamados de “paredes de cristal” os mecanismos invisíveis que impedem que haja movimentos horizontais de trabalhadoras em direção a ocupações associadas aos homens: ser pedreiro, comentarista de futebol ou governador aparecem como coisas de homens (e as estatísticas refletem isso). Há cinquenta anos as mulheres estavam majoritariamente restritas ao lar e a ter filhos, e só duas em cada dez trabalhavam no mercado de trabalho. Mas, tanto em 1900 como no presente, suas principais ocupações têm sido empregada doméstica, professora e enfermeira. A segmentação de tarefas por sexo quase não mudou no último século. Inclusive nas profissões em que são maioria e têm séculos de experiência a seu favor, as mulheres ganham menos!
Formar uma família segue sendo um dos maiores obstáculos que uma mulher enfrenta para desenvolver-se em sua vida profissional, política, artística, esportiva ou acadêmica. O motivo é simples: elas cumprem o papel de mãe e realizam o trabalho doméstico. Ser mãe e que tudo gire em torno disso é percebido socialmente como um dever e como destino inexorável da mulher. Isso é reforçado pela ideia, socialmente aceita, de que as mulheres seriam mais aptas para se ocupar da criação dos filhos. Essas atividades demandam tempo e exigem um grande esforço para se adequarem a qualquer outra tarefa. As mulheres se integram a um mundo profissional preparado para homens; além disso, esse homem comum que é tomado como referência é aquele que só tem obrigações com seu trabalho e cujo papel em casa não vai além de tirar o lixo ou levar as crianças para passear nos fins de semana.
Os preconceitos de empregadores (e consumidores) também são um obstáculo para o acesso e a permanência de mulheres em trabalhos que se assumem como masculinos. Há machismo e estereótipos quando se levantam dúvidas sobre sua capacidade de lidar com determinadas situações, seja por motivos emocionais, por motivos psicológicos, ou por sua capacidade física ou intelectual. Entrar em um taxi e encontrar uma motorista ainda nos gera surpresa, simplesmente não estamos acostumados.
Aquilo que me disseram em alguma reunião, que “o capitalismo deveria resolver”, de certo modo acontece. Desde que a mulher entrou no mercado de trabalho, o salário masculino baixou em termos relativos, e já não é suficiente para manter a imagem do homem da casa que alimenta a família. Muitas mulheres se viram obrigadas a trabalhar porque seu salário é parte central da renda familiar, não um extra.
Quanto à desigualdade salarial de gênero, podemos dizer com toda a segurança que o capitalismo não se ajusta por si só. Os países que mais avançaram nessa agenda partiram de políticas destinadas especificamente a extinguir as distintas desigualdades de gênero. É necessário estimular salários igualitários, combater os estereótipos e papéis tradicionais, incentivar as mulheres em suas aspirações, contribuir com sistemas de cuidado que permitam uma melhor remuneração do trabalho doméstico, entre tantas outras coisas. As negociações coletivas de salários e condições de emprego que visam garantir a igualdade, canalizadas através de sindicatos e associações de trabalhadores, são outra forma de responder a estas demandas.
Mas suponhamos por um momento que os salários se alinhem e que o eclipse seja total, que a mão invisível do mercado faça desaparecer por completo a desigualdade salarial. Sairemos do escritório, brindando pelas boas notícias, abriremos a porta de casa, e lá nos esperará radiante a segunda jornada de trabalho, aquele trabalho que ninguém paga e que todos esperam que a Mulher Maravilha faça.

No início de 2016, assisti a uma fala de Heather Boushey na New School, na qual ela apresentava seu livro Finding Time: The Economics of Work-Life Conflict (em português, algo como Encontrando tempo: A economia do conflito trabalho-vida). Na apresentação, Boushey mostrou um pôster que ilustrava o velho slogan do chamado “socialismo utópico” de Robert Owen. Em forma de tríptico, eram apresentadas três imagens. Na primeira, uma mulher na fábrica com o subtítulo “8 horas para trabalhar”; na segunda, uns pés que sobressaíam da cama com a legenda “8 horas para descansar” ; e, finalmente, um casal em um barco, com o jornal do sindicato nas mãos, representando as restantes “8 horas de recreação”. Boushey contou que o pôster, que está colado em seu escritório, lhe serviu de inspiração para sua pesquisa sobre a economia política do tempo. “Eu o vejo e não deixo de sorrir, este desenho diz muito. Tem algo perdido ali, há algo que falta. Eu o chamo de sócio oculto do capitalismo. Porque, para que essa mulher possa trabalhar 8 horas, dormir 8 horas e depois passear 8 horas de barco, alguém tem que se ocupar de fazer o café da manhã, limpar as suas roupas, tirar o lixo, fazer o trabalho doméstico. Alguém tem que estar cuidando das crianças e dos idosos. Alguém está ausente nessa situação. Há muitos trabalhos que não são vistos aqui, trabalhos não remunerados.”
A conclusão que deriva de seus estudos é que as mulheres também enfrentam pobreza de tempo. Saem para trabalhar para ganhar mais dinheiro, mas perdem em termos de qualidade de vida. Os homens têm longas jornadas de trabalho pago e as mulheres de trabalho pago e de tarefas do lar (não remuneradas). Quantas coisas mais se poderiam fazer com uma ou duas horas extras por dia? Para algumas mulheres seria uma revolução em sua vida cotidiana: permitiria que estudassem, fossem ao médico ou, como colocou Virginia Woolf, que escrevessem um poema.
O tempo está no coração das teorias econômicas mais antigas. Adam Smith se perguntava, antes de 1800, sobre o tempo de trabalho necessário para produzir as coisas de que necessitamos: um pedaço de pão, uma caneca de cerveja, uma jaqueta. A própria história do capitalismo está incorporada em tudo o que fazemos, reduzindo as horas que dedicamos ao trabalho para substituí-las através da incorporação da tecnologia, de processos mecânicos, de máquinas. No entanto, na economia, o tempo que faz sentido medir e calcular é o que se reflete em dinheiro; e é aí que o tempo das mulheres gasto no cuidado com a casa desaparece – como no quadro de Owen – da órbita do sistema de preços.
Se há algo que caracteriza a sociedade capitalista é o fato de que os produtos do trabalho tomam a forma de mercadorias, ou seja, nosso trabalho tem um preço; nós mesmos temos uma etiqueta que diz quanto valemos. Não importa se se trata de um trabalho físico ou intelectual, vivemos num mundo em que produzimos coisas (comida, móveis, dados, relatórios, a narração de um jogo de futebol), que logo trocamos por dinheiro, que por sua vez nos permite consumir aquilo de que necessitamos (roupa, transporte, moradia, ir ao cinema, um livro). Na economia governada pelo deus do mercado, além dos produtos do nosso trabalho terem um preço, também aqueles que os produzem têm uma remuneração: o trabalhador recebe um salário, o capitalista um lucro, o proprietário de terra uma renda.
No entanto, paralelamente, acima e abaixo do mercado se realizam vários trabalhos que não têm esse dom de serem trocados por dinheiro: o jantar preparado pela mamãe (incluindo o jantar preparado pela mamãe de Adam Smith), ir até o supermercado de bicicleta com a listinha de compras para encher a despensa, lavar as roupas e os lençóis, levar os filhos ao médico. Essas tarefas são realizadas todos os dias rotineiramente e demandam um tempo valioso, desgaste e esforço, mas não são trocadas por dinheiro. Todas são percebidas pela família, pela sociedade e pela contabilidade nacional como atos de dedicação e de amor. Embora sejam essenciais e inevitáveis para que a sociedade funcione, geralmente são menos valorizadas social e economicamente que o trabalho pago.
A assimetria na distribuição do trabalho doméstico é uma das maiores fontes da desigualdade entre homens e mulheres, é algo que transcende a desigualdade salarial. Sendo as mulheres aquelas que dedicam mais tempo a essas tarefas não pagas, elas dispõem de menos tempo para estudar, formar-se, trabalhar fora do lar; ou têm que aceitar trabalhos mais flexíveis (geralmente precarizados e mal pagos) e terminam enfrentando uma dupla jornada de trabalho: trabalham dentro e fora de casa.
A imagem da mulher circunscrita a sua casa serviu nos anos 1970 a Silvia Federici, filósofa e ativista marxista, para expor a necessidade da luta das mulheres por um salário pelo trabalho doméstico. O problema do trabalho doméstico é que, além de não remunerado, ele foi imposto como uma obrigação da mulher e foi se transformando em um atributo da personalidade feminina: ser uma boa dona de casa tornou-se, em algum momento, algo desejável ou característico das meninas.
Segundo Federici, as mulheres não decidem espontaneamente ser donas de casa, mas há um treinamento diário que as prepara para este papel, convencendo-as de que ter filhos e um marido é o melhor a que podem aspirar. E isso não é algo que pertence somente ao passado. Muitas décadas depois ainda se transmite uma cultura que reforça esses papéis. As bonecas, a pequena cozinha, o jogo de chá, a vassoura rosa, a maquiagem e as pulseiras de montar são o combo perfeito para criar princesas encantadoras, as mães e esposas devotas do amanhã. Essa história não é tão distante de uma cultura de filmes hollywoodianos com mulheres que largam tudo pelo amor por um homem. Ou mesmo do caso das telenovelas latinas, onde a empregada é aquela que se tornará a esposa depois de cuidar durante anos, em silêncio, de seu amado patrão, alcançando inclusive sua ascensão social. O modelo clássico de casal heterossexual funciona desse modo como um acordo tácito e reprodutivo.
As mídias estão cheias de publicidades de excelentes produtos de limpeza que cuidam, com essências de aloe vera e lavanda, das mãos que irão acariciar os entes queridos depois de limpar a crosta do vaso sanitário. A dona de casa é a heroína e protagonista dos contos infantis, a Cinderela nobre, altruísta e romântica que se prepara durante toda a sua vida para o momento em que se entregará e amará – com o melhor limpador bactericida – aos seus.
Ao longo da história das lutas feministas (e das políticas públicas de gênero), foram ensaiadas diferentes alternativas para valorizar economicamente o trabalho doméstico. Salários e pensões para a dona de casa – que equiparam o trabalho doméstico àquele que se realiza fora do lar –, cobertura universal de equipamentos públicos voltados aos cuidados com crianças, idosos ou pessoas com deficiência, entre outras. Há muitos elementos que a teoria econômica e as estatísticas públicas não veem e não integram em seus modelos, indicadores e políticas.
Quando não há berçários, jardins maternais ou casas de cuidados geriátricos disponíveis de forma gratuita (ou ao menos acessível), as famílias – sobretudo as de menor poder aquisitivo – têm que enfrentar essas tarefas por conta própria, e não resta tempo para estudar, formar-se, ter empregos remunerados – ou para assistir a uma novela na TV. As mulheres não têm escolha a não ser reduzir todas as atividades extras e apelar para a ajuda das irmãs mais velhas, tias, avós. Por outro lado, as famílias de alto poder aquisitivo têm mais possibilidades de contratar uma babá ou uma empregada e, assim, liberar tempo para ir à faculdade ou ao cinema.
Segundo o diretor regional (América Latina e Caribe) da OIT, José Manuel Salazar, há “uma situação de discriminação complexa em nossas sociedades, que estão historicamente enraizadas em regimes de servidão, com atitudes que contribuem para tornar invisível o trabalho das mulheres, muitas delas indígenas, afrodescendentes e migrantes”. Em muitos casos, essas trabalhadoras são exploradas física, mental e sexualmente. Em escala mundial, a América Latina possui 37% dos trabalhadores domésticos do mundo, ocupando o segundo lugar depois da Ásia. “Este trabalho, insuficientemente regulamentado e mal remunerado, segue sendo o principal prestador de assistência, na ausência de políticas públicas universais na maioria dos países da região”, explica María José Chamorro, especialista em gênero da OIT.
Por tudo isso, e porque, como diziam as feministas da segunda onda, “o pessoal é político”, é que o Estado tem um papel tão importante na provisão de sistemas de assistência. Bem implementados, eles poderiam ajudar a garantir que o mecanismo da desigualdade entre mulheres ricas que utilizam serviços prestados por mulheres pobres não se potencialize.
É justamente aqui que está o desafio conceitual da economia feminista, que necessita ser inscrita na teoria econômica, não como um capítulo à parte, um anexo, mas como uma peça que até certo ponto reorganiza a construção teórica. É o momento em que o homo economicus esbarra com a mulher econômica, ou em que o operário explorado se dá conta de que, para além de suas condições de exploração, há mais exploração ainda – a de suas esposas e filhas. Há toda uma revolução conceitual diante de nós.
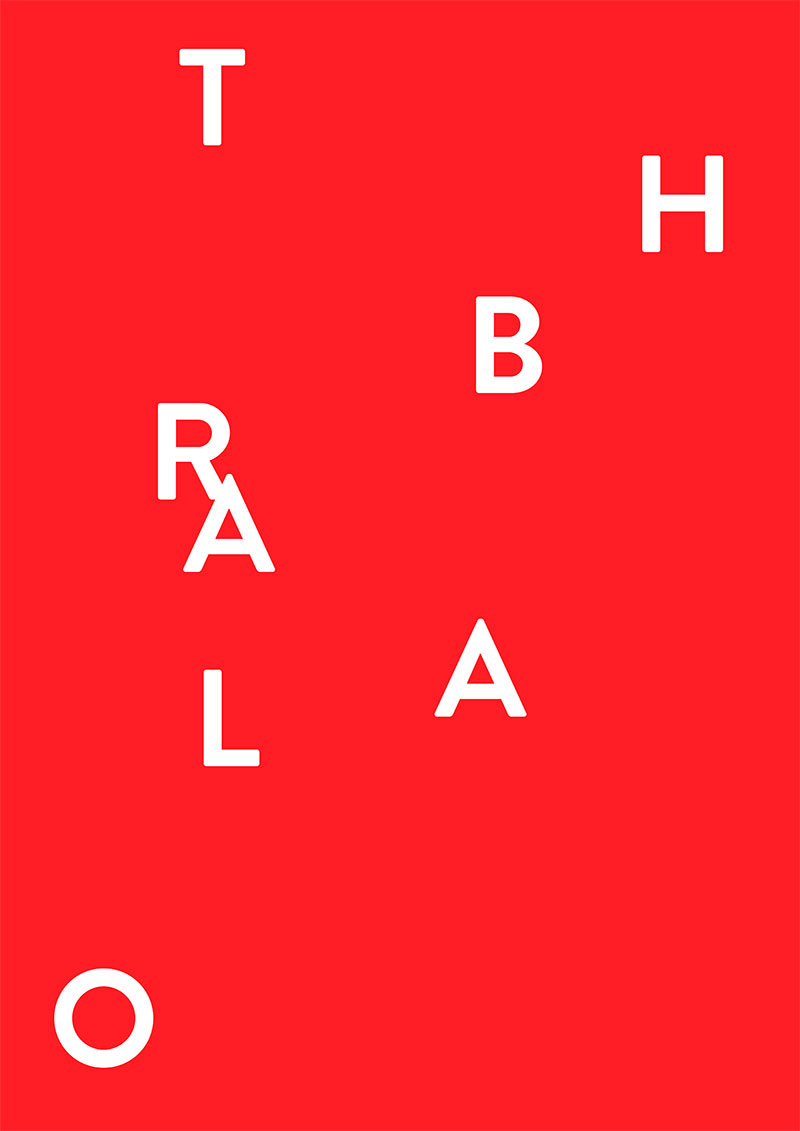
Estudar a pobreza ou a desigualdade a partir da perspectiva de gênero implica entender que as relações de gênero sustentam e reproduzem a atividade econômica e contribuem para gerar pobreza e desigualdade. Por isso, quando falamos em acabar com a desigualdade salarial, não podemos ficar na superfície, pensando que se trata simplesmente de ter salários semelhantes ou de aderir à igualdade de superexploração e de pobreza para todos. No fundo, estamos falando da necessidade de transformar o modo com o qual organizamos nossa vida econômica cotidiana, e também de transformar a maneira como pensamos sobre isso. Nesse sentido, a economia feminista ainda precisa ser reescrita na história do pensamento econômico.
É aqui que a discussão central da economia em torno da desigualdade se torna relevante: pode o próprio capitalismo resolver a desigualdade entre ricos e pobres? A isso podemos acrescentar: pode o próprio capitalismo resolver essa lacuna sem resolver as questões de gênero?
O trabalho é aquilo que fazemos para transformar materiais em objetos que satisfaçam nossas necessidades (sejam elas espirituais ou alimentícias); o trabalho assalariado, em compensação, é uma relação social específica, que nasce com a sociedade capitalista. É necessário entender isso para compreender que a forma como organizamos o trabalho socialmente é passível de transformação.
Em um sistema cujo único objetivo é a obtenção de lucro, os resultados de melhorias na ciência e na técnica não são mais bem-estar, pessoas felizes e descansadas, mas a extensão da pobreza, a deterioração do trabalho humano, a precarização do trabalho que é também a precarização da vida. Essa relação fundamental problematiza um vínculo geral: o desemprego não é um problema individual. Por enquanto, a panaceia de um mundo automatizado, em que as máquinas nos libertam do lado obscuro da exploração, não parece estar chegando – pelo contrário, a precarização e o empobrecimento dos trabalhadores só avançam.
“Como feminista, sempre assumi que lutando pela emancipação da mulher eu estava construindo um mundo melhor, mais igualitário, justo e livre. Mas ultimamente comecei a me preocupar com o fato de que os ideais promovidos pelas feministas estejam servindo para fins muito diferentes. Me preocupa, em particular, que nossa crítica ao sexismo esteja legitimando novas formas de desigualdade e exploração”, diz Nancy Fraser. Fraser, filósofa e escritora feminista estadunidense, se preocupa com o fato de setores sociais que expressam o projeto político neoliberal se apropriarem dos horizontes e das lutas do feminismo, colocando-os a serviço de uma sociedade egoísta, meritocrática e individualista, em que se promove o bem-estar e o crescimento da mulher como fins em si mesmos, e não como parte de um projeto político igualitário.
Na campanha de Hillary Clinton à presidência dos Estados Unidos, houve uma grande discussão quando Madeleine Albright – que foi a primeira Secretária de Estado do país – disse que “há um lugar especial no inferno para as mulheres que não apoiam outras mulheres”. Mas acontece que o feminismo não é um movimento homogêneo e, de fato, pode até ser pensado isoladamente de uma concepção política ou de um horizonte. O feminismo é um movimento truncado. Ele não tem um único slogan, não tem uma cor, nem tem um código de vestimenta. É uma proposta de revolução do mundo em que vivemos, que aponta para uma organização social igualitária na qual nós, mulheres e homens, possamos exercer nossa liberdade.
Mas qual é o caminho ou a estratégia? A princípio, precisamos usar tudo isso que aprendemos com séculos de trabalhos domésticos não remunerados para varrer os estereótipos, aspirar as ideias arcaicas e jogá-las no lixo, criar nossos filhos a partir do respeito, da tolerância e do amor pelos demais, cuidar de nossos idosos e aprender com eles, exercer nosso poder de compra em produtos que respeitem homens, mulheres e natureza. E nesse caminho não nos resta outra saída senão transformar nossos vínculos familiares e romper com as dicotomias nas funções de cada um, definidas por regras que não ajudamos a criar e nas quais não estamos refletidas. É necessário travar muitíssimas batalhas ao mesmo tempo nos escritórios, nas fábricas, nos parlamentos, nos campos de futebol, na música, na cama.
Mas o maior desafio é entender a rede de relações por onde nos movemos. Quebrar teto e paredes de cristal às custas da exploração de trabalhadoras domésticas não contribui para nosso caminho em direção à igualdade. Ter mais trabalho às custas de nos sujeitarmos a uma maior precarização e a baixos salários também não é muito encorajador. Nos tornarmos um conjunto de zumbis sobreviventes às crises não é uma opção.
Se o capitalismo é uma construção social, sua transformação também é um processo social. A economia feminista é revolucionária ou não é, porque não se pode conseguir igualdade em um mundo de opressão, porque não há igualdade em um mundo de pobreza nem de exploração. Temos à disposição todas as ferramentas para nos lançarmos nessa grande tarefa que é transformar o mundo que temos naquele em que queremos viver.
Mercedes D’Alessandro
Economista argentina, fundou em 2015 Economía Femini(s)ta, website e ONG sobre economia a partir da perspectiva do gênero.
Coletivo Metade
Formado pela arquiteta Ana Tranchesi e pela artista plástica Isabella Beneducci. Participou, com a intervenção pública centoeonze, do projeto Contracondutas, realizado pela Escola da Cidade (SP) em 2017.
Como citar
D’ALESSANDRO, Mercedes. Economia Feminista. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 14, p. 74-81, jul. 2020.