
O QUE DIRIAM
AS ÁRVORES?
Texto de Wellington Cançado
O livro das árvores -Ticuna, desenhos da Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngues e Jussara Gomes Gruber
A floresta projetada em reciprocidade por ameríndios e não humanos e o ódio à natureza no país que saltou do empório do naturalismo ao berço esplêndido do Antropoceno em um raio vívido.
Nos idos de 1955, ao sobrevoar o Brasil Central em plena campanha para a presidência, Juscelino Kubitschek diria ter sentido “o problema em todas as suas implicações. Dois terços do território nacional ainda estavam virgens da presença humana. Eram os vazios demográficos de que falavam os sociólogos”. E em vez de continuar “arranhando as areias das praias, como caranguejos”, o Brasil deveria extinguir seus espaços vazios, pois “o grande desafio da nossa História estava ali”, escreveria vinte anos mais tarde em seu livro Porque construí Brasília.
“A irradiação de um sistema desbravador” logo estaria completa com a “tomada de posse do território, nos moldes da tradição colonial”do Plano Piloto de Lúcio Costa. Brasília, a Meta-Síntese desse empreendimento colossal de design do território, seria “o veículo e o instrumento de conquista, desencadeando um novo ciclo bandeirante”.
Como índice gráfico dessa visão de país, e como diagrama da metástase fractal que estaria por vir, Mary Vieira apresentaria, na Interbau 1957, em Berlim, o cartaz celebratório brasilien baut Brasilia, no qual uma imensa superfície verde-bandeira enquadra o solo vermelho-sangue com as coordenadas da mítica intervenção humana.
Mas contrariando a sanha etnocêntrica dos designers modernos, o Mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes, publicado em 1944 por Curt Nimuendaju, já apresentava os arredores da área (pré)destinada ao Distrito Federal como território historicamente ocupado pelos Kaiapó, Xacriabá, Akroá, Akwe-Xavante, Bororo e Paresí.
Passados mais de seis décadas, a invisibilidade de certos humanos e o mito da natureza virgem continuam atuantes no imaginário brasileiro, bem como a técnica rodoviária tornada urbanismo e a terra arrasada como modus operandi desse renitente autocolonialismo. Assim como perduram a devastação do que ainda resta da Mata Atlântica, a extinção inexorável do Cerrado para a integração do país no mercado de futuros e a destruição sistemática da Amazônia e seus habitantes como política de Estado.
A tenebrosa, indevassável e misteriosa floresta amazônica dos tempos de Juscelino, última fronteira ao norte e reduto de um país pré-paisagem, é violada ao ritmo sertanejo em uma epifania agromachonaturalista: mulher-descartável, floresta-objeto e vice-versa. Mas não sem que a Queda do Céu se anuncie.
A “vontade de derrubar uma floresta inteira pra tirar o retrato de uma certa árvore”, máxima de Marcel Gautherot, fotógrafo da etérea utopia moderna brasileira, se tornou imagem corriqueira. Mas agora a certa árvore é cada vez mais a única árvore solitária em meio às pastagens e aos campos de soja, esquadrinhados de acordo com a rigorosa geometria do regime logístico global.
Enquanto isso, no interior da mata, “a natureza segundo os índios” contraria a hegemonia perspectiva e o distanciamento ótico, e o desenho, o cinema e a fotografia são canibalizados como ferramentas cosmopolíticas para mediar as relações entre as pessoas e os seres da floresta. Mas não só.
Ao longo da história do país foram muitos os que se detiveram às formas peculiares de relação do brasileiro com a natureza e alertaram para os riscos de um colapso civilizatório e ambiental caso nada fosse feito. Como bem sabemos, muito pouco foi feito, a não ser políticas de aceleração da catástrofe, metas de desmatamento-zero para quando não houver o que desmatar, leilões de nacos da floresta entre grileiros e ruralistas. Ou como enxergaria com terrível lucidez o antropólogo kaiowá Tonico Benites: “os brasileiros ainda estão descobrindo o Brasil”.
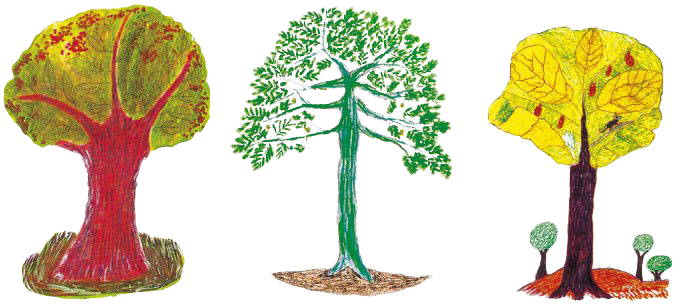
José Bonifácio, o primeiro crítico ambiental do país, já em 1821 apontava o desestímulo ao avanço tecnológico e a falta de cuidado com a terra inerentes à escravidão e ao latifúndio como decisivos para a devastação ambiental, como mostra José Augusto Pádua em seu precioso livro Um sopro de destruição. E Sérgio Buarque de Holanda reafirmaria, em Raízes do Brasil, que “sem o braço escravo, a terra farta, terra para gastar e arruinar, não para proteger ciosamente”, a monocultura seria impensável. Que o agrobusiness continue a reivindicar mais terras e trabalho escravo em 2017 não é mera coincidência.
Mas seria Euclides da Cunha, prefaciando o livro Inferno Verde, de Alberto Rangel, ainda em 1907, que colocaria precocemente o Brasil no debate sobre o Antropoceno: “temos sido um agente geológico nefasto e um elemento de antagonismo bárbaro da própria natureza”. Pois, “numa época em que dominam os milagres da engenharia e da biologia industrial, a nossa cultura tem como efeito final barbarizar a terra”.
Com o avanço do século XX, o enfoque da devastação se volta para as cidades e, à medida que o país se urbaniza, o distanciamento entre o meio natural e a vida cotidiana se intensifica. “O moderno vai sendo cada vez mais o nosso habitat natural”, diria Mário Pedrosa, para quem “no Brasil nem nos entregamos à natureza, nem a dominamos”. Paradoxalmente, esse “modus vivendi medíocre” que a modernidade brasileira deveria superar acabou por ser a mais precisa definição para o país a que fomos condenados.
Roberto Burle Marx, com sua ecologia pictórica, ciente da inexistência de um jardim brasileiro, descobriria inúmeras espécies e se tornaria um crítico veemente das incompreensões que afetam o binômio homem-natureza, da simplória arborização urbana e ao mesmo tempo do desflorestamento pela urbanização predatória. De fato, Claude Lévi-Strauss constataria que, no Brasil, “a natureza se reveste de um aspecto de canteiro de obras”, como escreveu em Tristes Trópicos, publicado em 1955. E quarenta e seis anos após a sua estadia entre os Bororo, Kadiwéu e Nambikwara, rodeado por quilômetros de torres, concluiria que “o vínculo entre o homem e a natureza talvez tenha se rompido”.
Vilém Flusser, autoexilado no país, viria a dizer em Fenomenologia do brasileiro que o brasileiro não está ligado à natureza, e é no litoral onde essa hipótese se apresenta com maior clarividência, sendo possível degustar cerejas argentinas, uvas californianas e bacalhau português, mas dificilmente um peixe da própria praia.
É como se à grandiloquência apologética correspondesse uma degradação bombástica”. O valor ideológico ornamental da natureza, discutido por Ricardo Arnt e Stephan Schwartzman no seminal livro Um artifício orgânico, seria fruto do eurocentrismo e do etnocentrismo vigentes. Pois, “na prática, a atitude dos brasileiros com a exuberante natureza que distingue o território oscila entre duas variáveis: ou é um estorvo e é removida, ou é percebida como herança inerte”.
Ainda sobre a Amazônia, síntese da natureza excessiva, o agrônomo-ambientalista José Lutzemberger sentenciaria, indignado, na ocasião do ainda atualíssimo assassinato de Chico Mendes, que era preciso parar. “Estamos destruindo a vida do Planeta para enriquecer meia dúzia de pessoas. O que está acontecendo na Amazônia é uma guerra. Uma guerra de pilhagem”.

Com um pouco mais de dedicação, essa lista renderia centenas de páginas com argumentos impagáveis e diagnósticos precisos sobre as idiossincráticas relações entre os brasileiros e a natureza. Mas mais do que tapar os buracos da história é preciso atinar para as consequências do fim da natureza neste século XXI que avança, não só empiricamente – a extinção em massa, o desmatamento extensivo, a urbanização planetária e as mudanças climáticas –, mas também teoricamente, como categoria ontológica supostamente inabalável.
A concepção naturalista colonial, antropocêntrica e patriarcal (pense nesses sujeitos históricos: os bandeirantes, o senhor de engenho, o capitão-do-mato, o grileiro, o garimpeiro, o pecuarista, o agroboy) prima há muito por esvaziar a natureza de qualquer intencionalidade, agência e humanidade, reiterando a separação instrumental e economicamente oportuna entre o excepcionalismo humano e os demais seres.
Mas a “virgindade” da Amazônia e a própria noção de natureza a-histórica, edênica e selvagem, resquício da wilderness romântica, eterno almoxarifado da economia política e cativeiro dos extraurbanos, vai ser desafiada exatamente por aqueles submetidos pelo determinismo evolucionista à condição de “homem natural”.
Com a sua capacidade de trânsito entre as espécies e com acesso ao tempo mítico, a ciência extática dos xamãs ameríndios vai fornecer as bases conceituais e empíricas para um mundo multinaturalista no qual “todas as coisas são humanas”. E no qual o que chamamos de “ambiente” será uma “sociedade de sociedades”, ou uma “cosmopoliteia”, como ensaiariam recentemente sobre o mundo por vir Déborah Danowisk e Eduardo Viveiros de Castro. “Mas se tudo é humano, a humanidade é outra coisa”, logo nos lembraria o próprio.
“Uma concepção do mundo em que não existe Natureza. Porque tudo foi fabricado, plantado e cuidado por alguém, tudo é produto do pensamento e do fazer de alguém”, reiteraria Els Lagrou, tendo em conta a cosmologia dos Huni Kuin. E nesse mundo, para além da natureza e da cultura, a ideia de selva cultivada não é nada extraordinária, uma vez que os ameríndios são muito conscientes de que suas práticas culturais influenciam diretamente a reprodução e a distribuição das plantas na floresta, como apontou Philippe Descola sobre os Achuar da Amazônia equatoriana.
Ao analisar a antropização sistêmica na ecologia ka’apor no Brasil, William Balée nos revela uma floresta até duas vezes mais rica em espécies de plantas, especialmente frutíferas, e animais do que as partes não cultivadas. Como consequência dessa “produção” de uma sociedade iminentemente contraprodutiva, a constatação de grandes extensões da floresta com ocorrência de “terra preta de índio”, ou seja, solo antropogênico altamente fértil, rico em vestígios de assentamentos humanos como carvão, ossos, restos de planta, animais e comida, sementes, raízes, cerâmica, excrementos, nitrogênio, cálcio e fósforo.

Mas a floresta é ela própria uma entidade pensante, e isto não é uma metáfora, nos alerta Donna Harraway na apresentação do livro How forests think, uma “antropologia além dos humanos”. Aliás, nada é metafórico nas sociedades animistas, para as quais todos os seres são pessoas de fato. A floresta dos Runa etnografada por Eduardo Kohn é uma ecologia densa de “alteridades de fato” em que plantas, animais, espíritos e os próprios Runa (ou as pessoas humanas) interagem e se comunicam para além dos signos e da linguagem das pessoas humanas, pelos sonhos ou através dos xamãs.
Como se não bastasse para desmistificar a floresta como ambiente inerte, vazio, deserto verde que se desenvolve sobre um solo pobre, as pesquisas de Anna Roosevelt, Michael Heckenberger, Eduardo Neves, dentre tantos outros, a partir de ruínas, geoglifos e análise de estratificação da floresta, apontam para a existência de uma paisagem antropogênica extensa e complexa com valas, estradas, pontes, terraplanagens, canais para navegação, tanques de criação de tartarugas, pomares e cultivos extensos, em um padrão disperso e multicêntrico. Essa lógica de ocupação “galática”, com padrões típicos de planejamento urbano em plena selva, os pesquisadores não hesitaram em chamar de urbanismo, se valendo inclusive de analogias com a baixa densidade e os cinturões verdes das cidades-jardim inglesas desenhadas por Ebenezer Howard no final do século XIX.
A floresta que emerge das diversas versões multinaturalistas, desde a crítica xamânica da economia política da natureza do xamã yanomami Davi Kopenawa e Bruce Albert ao urbanismo xinguano não é passiva, neutra, muda e muito menos natural. Não é obviamente um meio ambiente (“palavra de branco para o que já destruíram”) como um continente florístico e faunístico a ser conservado sem os indígenas. E não é um duplo primitivo do mundo urbano – uma “ainda-não-cidade” –, mas um pluriverso de seres, entidades e relações capazes de engendrar urbanidades de outras naturezas. A cosmopoliteia amazônica é um artefato trans-específico e extensivo projetado em reciprocidade pelos indígenas que há milênios a habitam, juntamente com os seus coinquilinos não humanos.
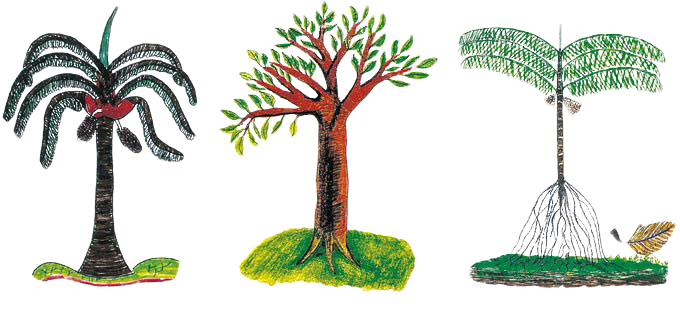
“As plantas sabem o que pensamos, e, portanto, também pensam” foi o que anotou Cleve Backster ao conseguir registrar com um polígrafo a reação de uma planta Dracaena massangeana que decorava a sua mesa de trabalho às suas ameaças com um fósforo aceso.
Nas experiências subsequentes de Backster, as plantas reagiriam à intrusão barulhenta de um cão, ao movimento das aranhas no teto, à presença de pessoas de quem supostamente não gostavam e seriam capazes até de identificar o responsável secreto pelo assassinato de uma parente no vaso ao lado. Reagiriam à morte de células individuais, como as do sangue e esperma do próprio pesquisador, aos lactobacilos de seu iogurte, às bactérias inquilinas do sifão da cozinha e a um ovo cru sendo comido por um dobermann.
A publicação na National Wildlife, em 1969, de sua hipótese sobre a percepção primária na vida das plantas faria de Backster um pop-star, com um programa de TV e o best-seller The secret life of plants, e até os seus ex-colegas de CIA começariam a estudar a comunicação entre plantas e humanos. Dez mil cientistas de todo o mundo solicitariam os relatórios dos experimentos, mas nenhum seria capaz de reproduzir com sucesso os mesmos resultados e comprovar a “sintonia fundamental entre os seres vivos”. Pesquisadores de várias instituições o desacreditariam por não seguir o método científico e o biólogo Arthur Galston, da Universidade de Illinois, o acusaria deliberadamente de desenhar as linhas do polígrafo.
“Eis o que eu chamo de um estraga-prazer”, diria a filósofa belga Vinciane Despret. “Sempre me surpreende ver o zelo com o qual certos cientistas correm para assumir este papel e o heroísmo admirável com o qual se encarregam do triste dever de dar más notícias”. No caso, a má notícia a que ela se refere está em seu livro What would animals say if we asked the right questions?, na história dos famosos elefantes tailandeses que, desempregados por uma nova lei que os proibiu de transportar madeira, se tornam protagonistas de espetáculos nos quais pintam quadros de árvores e flores com a tromba. No caso, o estraga-prazer é o biólogo e pintor autodeclarado surrealista Desmond Morris, que concluiria, após uma visita in loco, que as pinturas não tinham nenhuma “intenção elefantina”, sendo meros desenhos humanos docilmente copiados pelo animal.
Pode ser que Backster fosse um charlatão como foi acusado ou se achasse um xamã em suas viagens lisérgicas, mas, parafraseando Despret, se é evidente que o desenho do elefante não é dele, também é evidente que as linhas do polígrafo de Backster também não foram desenhadas pela máquina. “Quem duvidaria disso?”
Que cientistas em sua vida de laboratório não consigam se conectar com uma Dracena quando suas folhas são ameaçadas pelo fogo não quer dizer que a planta não perceba a ameaça. Pois, como bem diria Davi Kopenawa, não sobre uma solitária planta, mas sobre toda a floresta – complicando em muito a situação dos desencantados cientistas da natureza –, “os brancos talvez não ouçam seus lamentos, mas ela sente dor, como os humanos. Suas grandes árvores gemem quando caem e ela chora de sofrimento quando é queimada”.

Mas não somente as plantas e os xamãs desafiam a ciência do desencantamento. Para o biólogo molecular Tony Trewavas, as plantas raciocinam e fazem escolhas sofisticadas, além de se distinguirem dos animais pelo uso da plasticidade fenotípica para expressar comportamentos. František Baluška, Stefano Mancuso e outros pesquisadores da neurobiologia das plantas vêm desenvolvendo a noção de um complexo e descentralizado sistema neurovegetal, colapsando os limites entre as ciências moderna e indígena.
Em um experimento conduzido pelo próprio Mancuso, autor de Brilliant green: the surprising history and science of plant intelligence e diretor do International Laboratory of Plant Neurobiology, em Florença, quatro imagens são mostradas rapidamente e em sequência a uma audiência. As imagens são fotografias em que aparecem, respectivamente, dois veados em um campo coberto de samambaias, um enorme alce adulto em uma clareira com uma floresta ao fundo, uma rã verde que se protege da chuva sob duas folhas grandes e, por último, um homem e uma menina imersos em uma mata como que observando pássaros. Perguntados sobre o que viram nas imagens, 96% das pessoas responderam “os veados, o alce, a rã e as pessoas”. Quando perguntados especificamente sobre a última fotografia com humanos, 98% responderam terem visto somente o homem e a menina. Embora, em todas as quatro imagens, pelo menos 80% da fotografia fosse composta por plantas.
“Cegueira para as plantas” é o nome que os pesquisadores deram a essa capacidade de filtrar a informação visual. Se isso em algum momento do processo evolutivo foi importante, diria Mancuso, hoje esses dados impressionantes revelam nosso desinteresse e desprezo em relação às plantas. Eliminando as plantas do nosso cotidiano e subestimando drasticamente as suas capacidades reproduzimos séculos de desanimização e as discriminamos como organismos inferiores, inertes e passivos, escravos dos instintos.
Escutar sem ouvidos, enxergar sem olhos, cheirar sem nariz, respirar sem pulmões, calcular, memorizar, aprender e pensar sem cérebro. “As plantas são inteligentes e são capazes de resolver problemas”, além de serem também conscientes do ambiente e da vida em seu entorno, colaborando com outras espécies por água e nutrientes, comunicando por sinais elétricos e vibrações, além de estarem intimamente ligadas por relações de parentesco, como afirma Mancuso.
As plantas compõem 99,7% da biomassa da Terra, enquanto cabem aos animais, incluindo aí os humanos, apenas 0,3%. Estima-se que as quase 200 mil espécies vegetais conhecidas e catalogadas até 2017 sejam equivalentes, em uma perspectiva otimista, a no máximo 40% das existentes.
O Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta, somente de árvores são 8.715 espécies, 14% das 60.065 que existem no planeta, seguido da Colômbia, com 5.776 espécies, e da Indonésia, com 5.142. Mas, contrariando essa exuberância, os manuais de arborização urbana disponibilizados pelas prefeituras das principais capitais brasileiras indicam menos de uma centena de espécies para o plantio nas cidades, sendo que muitas delas são exóticas. Escolhidas segundo a “estética” (campo de concentração do Ocidente, diria Lina Bo Bardi) e de acordo com critérios técnicos – como crescimento limitado, formação da copa e resistência às podas – e com os “serviços ambientais” que possam oferecer, as destratadas árvores urbanas são as vítimas mais imediatas da tirania da mononatureza reinante, tidas pelos citadinos com o mesmo desprezo e intolerância que vêm concedendo às florestas nativas.
Se para os animais somos paquidermicamente antropocêntricos e do ponto de vista das plantas sofremos de zoocentrismo crônico, para as pedras certamente somos radicalmente fitocêntricos. Mas a conclusão, já tão óbvia para aqueles humanos capazes de se colocar no lugar dos outros seres, é que somos mesmo totalmente autocentrados: “os brancos dormem muito, mas só conseguem sonhar com eles mesmos”, diria Kopenawa.
Como bem sabemos, esse narcisismo humanista e especista não é inofensivo e legitima há muito a invenção perversa de categorias de não humanos e sub-humanos. Ou, como diria Viveiros de Castro, retomando a homenagem de Lévi-Strauss a Jean-Jacques Rousseau, o ideólogo do bom selvagem, “a relação entre racismo e especismo não é de descontinuidade, e sim de continuidade: o especismo antecipa e prepara o racismo”. Ou seja, “tudo se passa como se o único modo de se exorcizar o racismo (o especismo interno) fosse pelo endurecimento do especismo externo (a tese do excepcionalismo humano)”.

Não é à toa, portanto, que o mito da natureza intocada pelo homem seja uma invenção do século XVIII para justificar e enobrecer o empreendimento colonial e escravocrata nas Américas. Mito que confortavelmente se desenvolveria em paralelo ao colapso de mais de 90% da população ameríndia causado pelo extermínio em massa ao longo de 1492 e 1750, e que deixaria grandes extensões de floresta no continente desprovidas de habitantes.
Em mais de dois séculos, as florestas esvaziadas de seus cuidadores humanos voltariam a crescer livremente nas clareiras e nos roçados abandonados, produzindo uma selva bem menos biodiversa, mas também o declínio global de 7 p.p.m (partes por milhão) das emissões de dióxido de carbono na atmosfera terrestre. O que faria do ano de 1610 a data com a mais baixa marca de CO2 já registrada desde a Era do Gelo, com 271.8 p.p.m (403.38 em novembro de 2017 e provavelmente bem maior quando você estiver lendo este texto).
Somado ao rápido e intenso intercâmbio de espécies animais e vegetais, doenças e microrganismos, essa devastação humana sem precedentes na história da Terra foi batizada pelos climatólogos Simon Lewis e Mark Maslin de Orbis Spike (analogia ao Golden Spike, a marca geológica deixada pelo meteoro que atingiu o planeta e extinguiu os dinossauros). A partir da análise de amostras retiradas do subsolo antártico congelado que comprovaram as concentrações de CO2, os autores viriam então reivindicar o Orbis Spike como início oficial do Antropoceno, argumentando da centralidade da violência colonial contra humanos e não humanos, desde os seus primórdios, para a transformação antropogênica do planeta.
Um país que extinguiu tão rapidamente a árvore que lhe nomeia, e que segue avançando impiedosamente sobre a floresta e seus habitantes é o mesmo país que conclama a Natureza como pretexto para as brutalidades de gênero, a obstrução dos corpos femininos, o recolhimento de dízimos e a perpetuação do racismo sistêmico. No Brasil, violência sempre foi constitutiva e oportunamente instrumental, apesar do mito do homem cordial que habita o paraíso terreno. De empório do naturalismo ao berço esplêndido do Antropoceno em um raio vívido.
Tendo em conta que, por aqui, a eficácia da violência é inversamente proporcional à precisão dos dados, não é necessário ser um tabulador profissional para reconhecer as estatísticas da monstruosidade produzida desde a chegada das caravelas: 8 milhões de indígenas exterminados (sem contar os muitos executados nas últimas décadas pelos pistoleiros-ruralistas), 5,5 milhões de africanos escravizados (660 mil mortos antes do fim da travessia atlântica), 12 mulheres assassinadas e 135 estupradas diariamente (por essa “média” atual teríamos 2.264.460 assassinatos e 25.475.175 estupros em 517 anos), um sem número de LGBTQI+ mortos e perseguidos desde os fanchonos, sodomitas, tibiras, çacoaimbeguiras, adés e quimbandas, 20 milhões de animais caçados pela pele (só na Amazônia e entre 1904 e 1969) e quase 3 milhões de km2 de floresta devastados até agora.
A deglutição simbólica da violência nos promissores soluços antropófágicos vai sendo implacavelmente asfixiada pela urbanização sem urbanidade e pelo desenvolvimentismo sem desenvolvimento dessa modernidade autofágica. Oswald de Andrade, que descreveria o Brasil em seu Manifesto como uma república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus, ficaria surpreso com tanta gente ainda dizendo adeus. Quanto às árvores, as que sobrarem, o que nos diriam se estivéssemos dispostos a ouvi-las?


Wellington Cançado
Editor da PISEAGRAMA.
Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngues e Jussara Gomes Gruber
Organizaram O Livro das Árvores, de 1999, parte do projeto A natureza segundo os Ticuna, que desenvolve material didático para as escolas das aldeias.
Como citar
CANÇADO, Wellington. O que diriam as árvores? PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 11, p. 118-125, nov. 2017.