
POKÉ’EXA ÛTI
Texto de Luiz Henrique Eloy Terena
Produto de Genocídio, serigrafias de Paulo Nazareth
O advogado Eloy Terena aborda a luta indígena pela terra e argumenta que as retomadas são instrumentos legítimos, que fazem valer a Constituição de 1988 e almejam reinstaurar um sistema territorial próprio, baseado no uso coletivo.
O Estado de Mato Grosso do Sul concentra atualmente a segunda maior população indígena no Brasil, destacando-se os seguintes povos: Terena, Guarani-Nandéva, Guarani-Kaiowá, Kadiwéu, Kinikinau, Guató, Atikum, Kamba e Ofaié. As comunidades indígenas sofrem com problemas sociais de várias ordens, que incluem desassistência à saúde, violência e desnutrição. Toda essa problemática está intimamente ligada à questão territorial, resultado de processos de perda da terra que se deram de maneira diferente com relação a cada povo.
Nos últimos seis anos, o povo Terena, organizado por meio do Conselho do Povo Terena, constituído por caciques e líderes de retomadas, tem feito o enfrentamento na luta por seus direitos, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento formal dos territórios tradicionalmente ocupados. Através da realização da Hanaiti Ho’únevo Têrenoe (Grande Assembleia Terena), as lideranças têm discutido e tomado decisões importantes também sobre a saúde, a educação, a sustentabilidade e a política de representação nas instâncias institucionais.
A 1ª Assembleia Terena foi realizada em 2012 na Aldeia Imbirussú, na Terra Indígena Taunay/Ipegue, e contou com a participação de caciques terena e lideranças dos povos Kinikinau e Kadiwéu. O documento final pontua que foi a primeira vez, desde a Guerra do Paraguai, que os povos indígenas do Pantanal se reuniram novamente. Após a primeira Grande Assembleia, outras grandes reuniões foram realizadas em diversas aldeias.
Atualmente, o povo Terena está distribuído nas Terras Indígenas Taunay-Ipegue, Limão Verde, Cachoeirinha, Pilad Rebuá, Lalima, Buriti, Nioaque e Buritizinho, além das aldeias urbanas localizadas em Campo Grande. Essas terras são reservas demarcadas na época do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), com exceção da Terra Indígena Limão Verde, demarcada de acordo com o preceito constitucional de 1988.
Diante da inércia do poder público em cumprir a determinação constitucional de demarcar as Terras Indígenas, o Conselho do Povo Terena, por meio de seus caciques e lideranças, deliberou a imediata retomada de seus territórios. Nessa esteira, nos últimos anos os Terena reocuparam aproximadamente 45 mil hectares de terras, constituindo inúmeros acampamentos indígenas. No município de Dois Irmãos do Buriti, temos as retomadas 10 de maio, Pahô Sîni, Terra Vida e Cambará. No município de Miranda estão as retomadas Maraoxapá, Mãe Terra, Charqueada e Kuixóxono Utî. Em Aquidauana temos as retomadas Esperança, Maria do Carmo, Cristalina, Ouro Preto, Persistência, Capão da Arara, Ipanema, Touro e Santa Fé.
Foi nesse contexto de conflito fundiário que Oziel Gabriel, liderança terena, foi morto na manhã do dia 30 de maio de 2013, depois de ser gravemente ferido por uma arma de fogo numa área retomada pelo povo Terena pertencente à Terra Indígena Buriti, declarada em 2010 como de ocupação tradicional. O episódio se deu quando a Polícia Federal, usando de um modus operandi violento e desproporcional numa ação mal planejada, iniciou a execução da reintegração de posse da área ocupada pela comunidade com bombas de efeito moral, spray de pimenta e tiros. Em 2016, as investigações do Ministério Público Federal concluíram que o projétil que atingiu Oziel partiu de uma arma da Polícia Federal. A terra em questão vem sendo reivindicada pelo ex-deputado estadual Ricardo Bacha.
Ainda em 2013, o líder Paulino Terena foi atacado em sua comunidade por quatro homens encapuzados. O atentado foi atribuído a produtores rurais da região, em disputa na Justiça pela posse de territórios reivindicados pelos Terena. Nessa mesma região, em 4 de junho de 2011, um ônibus que transportava cerca de 30 estudantes terena, a maioria entre 15 e 17 anos, foi atacado com pedras e coquetéis molotov. Seis pessoas, incluindo o motorista, sofreram queimaduras e quatro foram internadas em estado grave. A estudante Lurdesvoni Pires, de 28 anos, faleceu, vítima de ferimentos causados pelas queimaduras. O ataque está intimamente ligado ao contexto da disputa pela demarcação de Terras Indígenas.
O contexto em Mato Grosso do Sul é extremo a ponto de a violência do campo se institucionalizar nas agências estatais e nos setores de representação do agronegócio. A violência é, ao mesmo tempo, velada e declarada. No final de 2013, por exemplo, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), com o apoio da bancada ruralista do Congresso Nacional, lançaram a convocação da realização do chamado “Leilão da Resistência”, grande ato político que tinha como fim maior a arrecadação de fundos para a formação de uma grande milícia armada para fazer a segurança de propriedades rurais e promover ataques a comunidades indígenas.
O Conselho Terena e o Aty Guasu, Grande Assembleia dos povos Kaiowá e Guarani, entraram com uma ação judicial para barrar o “Leilão da Resistência”. O processo foi distribuído à 2ª Vara Federal de Campo Grande e, no dia 4 de dezembro de 2013, a juíza Janete Lima Miguel determinou que as entidades ruralistas se abstivessem de realizar o leilão argumentando que “esse comportamento por parte da parte [os fazendeiros] não pode ser considerado lícito, visto que pretendem substituir o Estado na solução do conflito existente entre a classe ruralista e os povos indígenas” e que “tem o poder de incentivar a violência […] e colide com os princípios constitucionais do direito à vida, à segurança e à integridade física”.
Numa assombrosa manobra processual, menos de 48 horas depois as entidades ruralistas conseguiram afastar a magistrada do caso e, depois da nomeação de outro magistrado pelo tribunal, o leilão foi liberado pelo juiz Pedro Pereira dos Santos. A decisão, no entanto, impôs três condicionantes. A primeira era que o dinheiro arrecadado com o leilão deveria ser depositado numa conta judicial e controlado pela Justiça. A segunda era que os nomes dos arrematadores e os valores pagos deveriam ser discriminados pelos leiloeiros. A terceira, por fim, era que recursos arrecadados com o leilão só poderiam ser utilizados depois de a Justiça ouvir o Ministério Público Federal e as organizações indígenas Aty Guasu e Conselho Terena.

É notório, de igual modo, o processo de criminalização de lideranças indígenas e aliados do movimento indígena em curso no estado e no Brasil. Eu mesmo enfrentei, em menos de dois anos, processos disciplinares na seccional Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), um deles com pedido de cassação do meu registro como advogado, assinado pela Comissão do Agronegócio da entidade.
A perseguição aumentou depois que atuei na ação judicial que suspendeu a realização do chamado “Leilão da Resistência”, criando obstáculos intangíveis aos realizadores do evento. Em março de 2014, os ruralistas também manejaram uma ação judicial para tentar impedir que eu defendesse minha dissertação de mestrado Poké’exa ûti: O Território Indígena como Direito Fundamental para o Etnodesenvolvimento Local dentro da Terra Indígena, justamente porque tratava do direito territorial dos povos indígenas.
A categoria “terra tradicionalmente ocupada” foi reconhecida pelo texto constitucional de 1988 e vem sendo objeto de luta dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul, especialmente os povos Terena, Guarani, Kaiowá e Kadiwéu. Isso significa que há dificuldade no reconhecimento jurídico-formal dessa categoria, resultado de processos de territorialização. O reconhecimento tende a romper com a invisibilidade sócio-histórica dos indígenas e impele transformações na estrutura agrária.
Cada sociedade indígena tem sua forma de lidar com o meio físico em que se encontra. Com o reconhecimento da “diversidade fundiária do Brasil”, a questão fundiária vai além das questões relacionadas à distribuição de terras, centrando-se nos processos de ocupação e afirmação territorial, de demarcação e homologação das Terras Indígenas.
Do período colonial aos dias atuais, a configuração do território brasileiro foi marcada pela expansão fronteiriça. Essa “conduta territorial” foi colidindo com a territorialidade das sociedades indígenas que aqui viviam. Falamos de conduta territorial quando as terras de um grupo são invadidas, numa dinâmica em que, internamente, a defesa do território torna-se um elemento unificador do grupo e, externamente, as pressões exercidas por outros grupos ou pelo governo da sociedade dominante moldam (e às vezes impõem) outras formas territoriais.
A conduta territorial que antes usurpava, invadia e despejava comunidades inteiras de seus territórios tradicionais, hoje se traduz numa “conduta política” sistematizada no conjunto de articulações imbricado em todas as instâncias de poder da máquina estatal com o nítido objetivo de impedir o reconhecimento das terras tradicionais. Os dispositivos constitucionais que reconhecem a diversidade de territorialidades – ou um Estado pluriétnico – não resultaram em nenhuma adoção de políticas étnicas e tampouco em ações governamentais capazes de reconhecer efetivamente esses territórios.
O Estado pode formalmente reconhecer determinados territórios associando-os a determinados povos indígenas. No entanto, é preciso entender como o Estado brasileiro regula e reconhece esses territórios. É justamente nesse plano que se abre a possibilidade de compreender como a conduta política atual não tem contemplado os povos indígenas e, consequentemente, os seus territórios tradicionais.
Os elementos que marcam a territorialidade indígena são os vínculos afetivos com seu território. O sentimento de pertença de um com o outro (a relação do índio com a terra-mãe) explica o sentido de “dar sua vida pela sua terra”. Trata-se de um uso social que dá sentido ao território numa lógica contrária à lógica capitalista, que o percebe exclusivamente como mercadoria. Recuperar um território indígena é, portanto, a principal forma de proteger esse território. O índio é movido pelo sentimento de retomar o que é seu ante a constante e ilimitada exploração de sua “mãe terra”. Além disso, as estratégias de territorialização indígena são reforçadas pela memória coletiva, que guarda a histórica e violenta (des)territorialização promovida pela conduta territorial estatal.

As retomadas de terras são instrumentos próprios e legítimos dos povos indígenas para (re)territorializar espaços que foram alvo da conduta territorial do Estado – ou seja, terras que foram invadidas ou retiradas – e fazer valer seus direitos étnicos esculpidos na Constituição Federal. Diferentemente do olhar capitalista, para os povos indígenas o território não tem valor de mercado, mas sim valor de uso – e uso coletivo. O espaço é local de possibilidades.
As retomadas indígenas são processos próprios de territorialidade, pois dizem respeito à maneira de manifestação de um sistema territorial específico, que se revela num conjunto de formas – objetivas e subjetivas – ali construídas e vivenciadas.
O instituto da “posse” está previsto no Código Civil Brasileiro no Livro II da Parte Especial que trata do Direito das Coisas. Os artigos 1.196 a 1.510 são justamente os que tratam da posse, da propriedade e dos direitos reais sobre coisas alheias. Não há, no entanto, no direito brasileiro, um entendimento harmônico a respeito da posse, seja em relação à sua origem, seja em relação à sua natureza jurídica.
A posse indígena é uma posse constitucional, que merece tratamento diferenciado da posse regulada pelo direito civil. Essa posse em sentido amplo é um direito de categoria especial, não podendo ser tratada como simples fato que tende a desaparecer perante um “suposto direito de propriedade”. A posse indígena decorre de comando constitucional e é anterior a qualquer outra relação jurídica. Esse é o principal argumento no debate travado na jurisprudência dos tribunais, e tem ganhado força. A posse indígena não pode ter sua proteção confundida meramente com a posse civil ou a ocupação geral.
A Constituição Federal de 1988, no § 1º do artigo 231, estabeleceu como requisito para demarcar uma Terra Indígena a “tradicionalidade”, traçando o conceito de abrangência do termo e garantindo aos povos indígenas o direito congênito às terras tradicionalmente ocupadas. A tradicionalidade consagra um direito de nascença, anterior a qualquer outro.
O próprio texto constitucional se preocupou em definir o que é terra tradicional de um povo: são as terras habitadas em caráter permanente; as terras utilizadas para suas atividades produtivas; as terras imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar; e as terras necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Assim, a Terra Indígena deve contemplar o espaço necessário para as moradias da comunidade. Deve, ainda, englobar os recursos naturais, como as matas onde se possa caçar e colher as plantas medicinais, os rios e lagos onde se possa pescar e onde as crianças possam desfrutar de momentos de lazer. O espaço deve ser suficiente para as atividades culturais e para a convivência harmoniosa dos grupos familiares presentes e das futuras gerações. Esse território deve abarcar também eventual montanha, rio, mata, gruta ou outro elemento considerado sagrado pela comunidade.
Competiria à União demarcar esses territórios, e impôs-se um prazo de cinco anos para que todas as terras fossem demarcadas e homologadas, a contar da data da promulgação da Constituição. O prazo estipulado venceu em 1993 e, ainda hoje, várias comunidades estão fora de seus territórios tradicionais aguardando o reconhecimento jurídico-formal. No que diz respeito aos Guarani e aos Kaiowá, até o momento poucas foram as terras demarcadas. Com relação aos territórios terena, ofaié e kinikinau, nenhuma terra foi de fato demarcada.
Os principais entraves à demarcação dos territórios indígenas têm sido a judicialização das demarcações e o modelo de “desenvolvimento” adotado pelo Estado brasileiro.
O procedimento de demarcação de Terras Indígenas deve tramitar na via administrativa, iniciando-se na FUNAI e concluindo-se com expediente da Presidência da República. No entanto, com as ações intentadas pelos interessados na não demarcação, esses procedimentos ficam paralisados por força de decisões judiciais. Essas decisões baseiam-se apenas em argumentos jurídicos de cunho civilista (ou seja, no Código Civil), enquanto o direito dos povos indígenas foi tratado com profundidade pelo direito constitucional (ou seja, pela Constituição Federal).
A judicialização tem como consequência a paralisação dos processos de demarcação. Várias são as liminares que são concedidas em favor do fazendeiro em que o judiciário, no início da ação judicial, determina que a FUNAI paralise os procedimentos. Nesse ínterim, as comunidades permanecem em situação precária, em acampamentos, aguardando uma decisão resolutiva.

Concomitante à judicialização, outro grande entrave à efetiva demarcação das Terras Indígenas é a opção política feita pelo Estado brasileiro. Essa opção não contempla os interesses de povos indígenas, pois se baseia num modelo econômico desenvolvimentista agroextrativista exportador altamente dependente da exploração de matérias-primas, as commodities agrícolas e minerais, como soja, milho, carnes, madeiras, agrocombustíveis e minérios em geral. Para viabilizar a exploração e a exportação dessas matérias-primas, o Estado brasileiro busca implementar a qualquer custo obras de infraestrutura, geração de energia, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, dentre outras. As comunidades e os territórios tradicionais são vistos como empecilho a esse processo.
Não é coincidência, portanto, que as demarcações de territórios tradicionais tenham sido gradativamente reduzidas ao longo dos governos pós-1988. Com o inaugural requisito para reconhecimento formal desses territórios – a tradicionalidade – os procedimentos foram em larga escala concluídos em relação à região amazônica e demais localidades onde eram considerados de fácil reconhecimento, seja em razão do interesse pela preservação ambiental ou em razão de não haver títulos de propriedade concedidos pelo próprio Estado brasileiro. Não é o caso de Mato Grosso do Sul, onde há registros de comunidades indígenas que foram expulsas de suas terras com apoio estatal.
Mato Grosso do Sul registra um número expressivo de acampamentos indígenas. Trata-se de comunidades que aguardam a demarcação de seus territórios. No caso dos Guarani e dos Kaiowá, no cone sul do Estado de Mato Grosso do Sul, a realidade desses acampamentos expressa uma tentativa de resistência e superação da imposição histórica do confinamento. O processo histórico de ocupação do território por frentes não indígenas forçou a transferência dessa população para espaços definidos pelo Estado. Passou-se, portanto, de um território indígena amplo, fundamental para a viabilização de sua organização social, a espaços exíguos, demarcados a partir de referenciais externos, definidos tendo como perspectiva a “integração” dessa população.
Com o crescimento avassalador do agronegócio e do desmatamento, as comunidades indígenas que se encontravam em pequenas áreas de matas foram descobertas e expulsas.
Essa realidade tem propiciado a existência de “índios entre a cerca e o asfalto”, ou seja, acampados à beira das estradas, também conhecidos como “índios do corredor”. É o caso de muitas famílias isoladas e mesmo comunidades que nos últimos anos passaram a residir em caráter relativamente permanente às margens de rodovias e estradas vicinais.
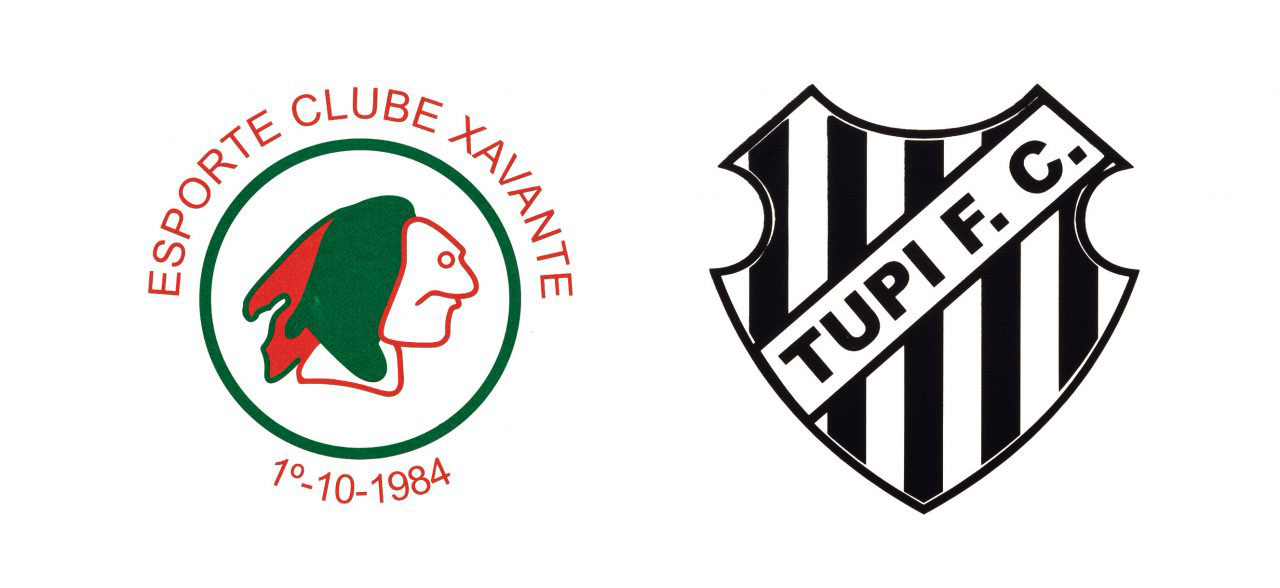
Os Terena falam língua da família linguística Aruaque e descendem dos Txané-Guaná. Até o final do século XIX estavam separados e se distinguiam entre si em vários povos: Terena (ou Etelenoé), Echoaladi, Kinikinau (Equiniquinau) e Laiana. Viviam no êxiva, também conhecido como Chaco paraguaio.
A região do êxiva ficava muito próxima a minas de metais preciosos, que chamaram a atenção dos colonizadores portugueses e espanhóis, ocasionando muitos conflitos e destruição de várias aldeias. No século XVIII, os Guaná deslocaram-se para o Mato Grosso do Sul. A ocupação terena no interflúvio Miranda-Aquidauana remonta às primeiras décadas do século XIX, quando Miranda era apenas um presídio abastecido por esses mesmos índios.
Possuindo atualmente um território descontínuo, nenhuma das terras tradicionais do povo Terena está demarcada conforme o que preceitua a Constituição Federal. A reivindicação da formalização desses territórios é a pauta principal do Conselho do Povo Terena e a mobilização tem sido notória. A luta dos Terena é incansável, e nos últimos anos tem se intensificado seu movimento de retomada dos territórios tradicionais. O povo Terena resiste às ações estatais, fortalecendo-se como povo indígena e gritando a palavra de ordem poké’exa ûti!: “Nosso território tradicional”. Pronunciando essas palavras é que, nos últimos anos, as lideranças terena têm retomado terras e resistido no difícil caminho da luta por seus direitos.
A justiça federal de Campo Grande concentra atualmente um grande número de processos envolvendo litígios em áreas terena. Grande parte dos procedimentos demarcatórios está judicializada e, consequentemente, paralisada. Assim como no caso dos Guarani e Kaiowá, existem muitas comunidades terena que estão em áreas de retomada, vivendo em acampamentos e aguardando a demarcação de suas terras. No entanto, entre os acampamentos terena levantados recentemente, não há nenhum à beira de estradas: todos os acampamentos mapeados encontram-se no interior das fazendas que incidem em seus territórios tradicionais.
A ideia de terra tradicional traçada pelo Poder Constituinte de 1988 é bem diferente da realidade dos acampamentos indígenas de Mato Grosso do Sul – e até mesmo de muitas Terras Indígenas demarcadas, que se configuram como um verdadeiro confinamento, em que as relações sociais, culturais e religiosas se desarmonizam, gerando vários conflitos. A violência desse confinamento soma-se à violência relacionada às constantes violações aos direitos humanos dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul, em especial dos povos Guarani e Kaiowá, na luta por suas terras.
Tais violações são históricas e refletem uma realidade em que indígenas são discriminados pela sociedade envolvente e em que o poder público é submisso aos interesses de latifundiários e de empresários da cana-de-açúcar, do álcool e do gado e contrário aos direitos indígenas. A isso, soma-se a falta de estrutura do órgão indigenista e dos demais órgãos assistenciais, que não conseguem atender às demandas de comunidades indígenas no que tange aos serviços de saúde, educação, atividades produtivas, proteção e fiscalização das áreas demarcadas e, fundamentalmente, não podem garantir que os procedimentos demarcatórios em andamento ou prestes a serem iniciados transcorram de maneira serena – ou, pior ainda, que sejam concluídos.
O direito dos povos indígenas nunca esteve tão ameaçado, atacado por expedientes de todos os poderes do Estado brasileiro. Não faltam iniciativas que têm por escopo inviabilizar e impedir o reconhecimento e a demarcação das Terras Indígenas que continuam usurpadas, na posse de não índios. No entanto, é preciso lembrar que a posse que o índio exerce sobre seu território é a mais positiva, pois beneficia a coletividade. É em seus territórios tradicionais que os laços de comunidade, solidariedade, identidade, tradicionalidade e potencialidade comungam, e é por isso que devem ser garantidos o acesso e a permanência dos índios sobre esses espaços identitários. A posse é mais que um fato, é um direito.
Luiz Henrique Eloy Terena
Indígena da etnia Terena, advogado, doutorando em antropologia social no Museu Nacional/UFRJ e assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.
Paulo Nazareth
Artista, participou da 12ª Bienal de Lyon, da 55ª Bienal de Veneza e da Miami Art Basel e integra as coleções Pinacoteca-SP, MAM-RJ, Borus Collection Berlim, Museu de Arte Moderna de Oslo.
Como citar
TERENA, Luiz Henrique Eloy. Poké’exa ûti. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 12, p. 12-17, ago. 2018.