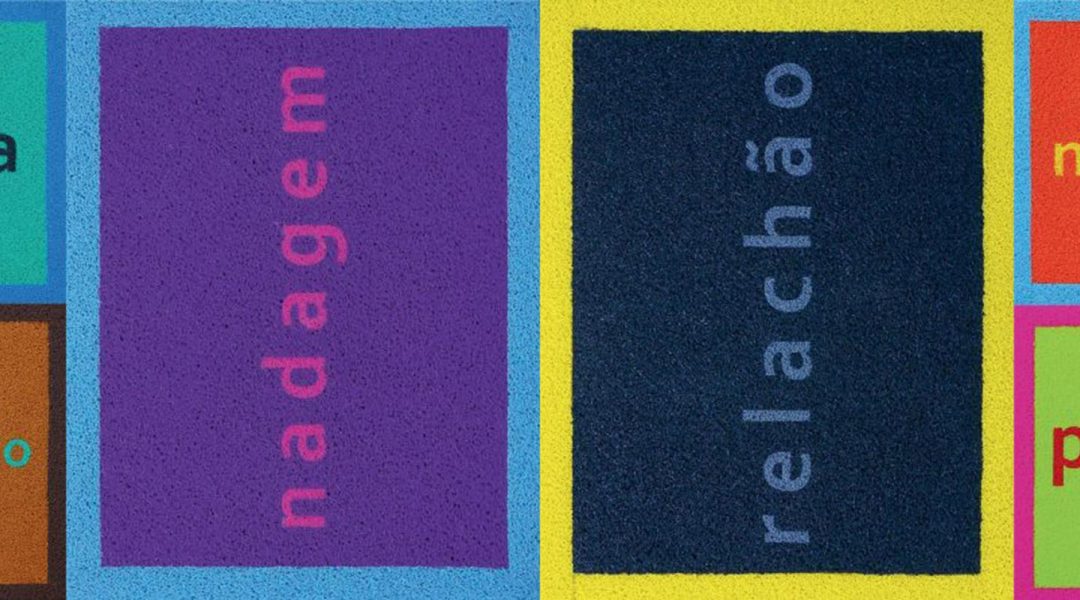
POR QUE
OBEDECER?
Texto de Andityas Soares de Moura Costa Matos
Desleituras, ação artístico-educativa de Jorge Menna Barreto
A ideologia da obediência, o papel do direito na manutenção dos sistemas de poder, o Estado de Exceção permanente que marca nosso cotidiano e os fundamentos para uma vida desobediente.
No Brasil e no mundo, antes como agora, o problema é a obediência civil. Essa é uma constatação do ativista estadunidense Howard Zinn nos anos 1970. Diante de um mundo de tantas injustiças praticadas de forma automática, inconsciente e inconsequente sob a sombra da banalidade do mal, ele nos ensinou que o problema não era a desobediência civil que então estava maravilhosamente na moda, mas a obediência.
De fato, a obediência nos transforma muitas vezes em agentes da injustiça, e para calar definitivamente nossos sentimentos de culpa usamos a justificativa segundo a qual há um direito objetivo que determina nossas condutas e, assim como policiais que reprimem greves e manifestações cidadãs e juízes que desalojam gente sem casa para proteger direitos dos proprietários, nós também nos justificamos dizendo que temos deveres a cumprir. Afinal, lei é lei. A frase é repetida à exaustão em nossos dias, mas também caracterizou a exemplaridade dos funcionários alemães sob o III Reich. O esquema mental de nossa época, portanto, coloca sempre a obediência em primeiro lugar, reservando à desobediência um incômodo cantinho, quase sempre a aproximando do crime puro e simples.
Falar em desobediência é sempre incômodo, já que em todos os âmbitos de nossas vidas somos levados a acreditar, desde quando nascemos, que a obediência é o normal e o correto, enquanto a desobediência expressa uma espécie de falta ou pecado. Na tradição judaico-cristã, da qual somos herdeiros, sejamos ou não cristãos, a queda do ser humano se deu graças a um ato de desobediência às ordens de Deus.

Até mesmo nos cenários mais cotidianos somos levados a considerar que a desobediência é negativa e deve ser evitada a todo custo. É assim que, por exemplo, pais e professores justificam os castigos impostos a filhos e alunos desobedientes de maneira muito similar ao que faz o patrão diante de empregados que não cumprem suas ordens.
Da igreja à escola, da casa à praça, o mantra sempre repetido é o mesmo: sem obediência, nossas sociedades mergulharão no caos da anarquia e os seres humanos se devorarão uns aos outros. Todavia, essa maneira simplista de considerar o problema da desobediência não leva em conta um elemento fundamental: o primado da obediência em todos os campos da vida humana exige, para ser coerente, a noção de autoridade. Por mais que rios de tinta já tenham sido gastos para definir a ideia por trás dessa palavra, o senso comum parece ser aqui suficiente para indicar que só se pode sustentar o dever de obediência caso se pressuponha uma autoridade superior, anterior e legítima. Isso não envolve maiores problemas em contextos nos quais os seres humanos constroem suas sociedades com base na tradição e na metafísica.
A pergunta política fundamental – qual seja: por que um ser humano deve obedecer às ordens de outro? – é respondida nessas sociedades com base na percepção de que as coisas sempre foram assim, às vezes acrescentando que as coisas são e devem ser assim porque essa é a vontade dos deuses.
A tradição apenas nos diz que as coisas são assim porque sempre foram assim. Mas do fato de algo ser não deriva qualquer dever para nós. Do mesmo modo, a justificativa da obediência com base na metafísica equivale a uma falsa justificativa, pois, ainda que possam existir instâncias transcendentes para além da experiência humana – vamos aceitar esta hipótese para fins de argumentação –, deste suposto fato não deriva diretamente qualquer dever de obediência para nós, em especial quando a obediência é exigida por seres humanos bem reais, de carne e osso, aqui e agora.
Esse simples exercício de pensamento nos mostra que a obediência quase sempre é injustificada. Só não percebemos isso devido à força esmagadora da tradição, dos hábitos, da moral social, dos costumes e, mais do que tudo, graças à lenta – mas certa – formação de subjetividades obedientes, processo que se opera incansavelmente em nosso interior na medida em que somos levados a nos calar diante da resposta dada pelos adultos às crianças que um dia fomos quando perguntávamos: “por quê?”. A resposta, mais cedo ou mais tarde, a depender da paciência de quem manda, era invariavelmente: “porque sim”.

As ideologias dos obedientes desconsideram o fato inegável de que a obediência precisa ser justificada e quase nunca o é, invertendo assim a equação e exigindo que a desobediência seja justificada, ainda que as razões do desobediente, por mais acertadas e éticas que possam ser, raramente sejam aceitas. Produz-se, assim, o curioso esquema pelo qual a obediência passa a ser tida como um fenômeno originário, daí derivando imediatamente as noções de hierarquia, divisão social, autoridade e legitimidade, restando à desobediência apenas um espaço que poderíamos chamar de marginal, nos dois sentidos desta palavra. Marginal porque está à margem, distante do centro e, portanto, carente da fundamentabilidade que dele emana. E marginal porque, exatamente por se distanciar do centro, é coisa de bandido.
O esquema fundado na tradição e na metafísica funcionou muito bem no mundo ocidental durante a Idade Antiga e até o fim da Idade Média. Contudo, a partir do início da Modernidade, ele começa a falhar. Nesse período surgem visões alternativas da realidade política, social e religiosa que já não podem ser conectadas a uma grande e incontestada metanarrativa. Não é à toa, portanto, que o problema da desobediência surja com dignidade filosófica pela primeira vez na Modernidade. No mundo clássico e no medievo tinha-se uma noção de ordem preestabelecida, justa por si mesma e que se refletia imediatamente nos negócios humanos. Nesse cenário a desobediência só poderia ser entendida como falta ou insuportável tentativa de quebra da ordem objetiva do mundo.
Todavia, quando essa ordem passa a ser questionada na Modernidade, se põe pela primeira vez a obediência como um problema. As tradições, a moral e a metafísica que sustentavam a antiga ordem foram relativizadas, questionadas e, ao final, esvaziadas por uma série de fenômenos que vão desde o renascimento artístico e científico até as guerras religiosas e o descobrimento de um novo continente. Nenhuma ideia substancial de ordem poderia mais ser pressuposta. A ordem, agora condenada a ser precária e questionável, precisa então ser sempre criada e recriada. Ao mesmo tempo, o ser humano descobre-se como ser livre, colocando-se a questão: por que devo obedecer?
É nesse momento que uma inflexão que até hoje sentimos se impõe. Se a ordem não podia mais ser pressuposta como dado natural ou transcendente, se as justificativas substancialistas falhavam diante de uma pluralidade de narrativas que só se aprofundará ao longo da Modernidade, era preciso que as classes dominantes encontrassem um novo fundamento para a obediência. Esse fundamento, como fica claro nas obras de autores como Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, é o direito. Traduzido inicialmente sob a ideia de um contrato que evitaria o mergulho na violência anômica, o direito surge na Modernidade como dispositivo capaz de restabelecer o comando e a autoridade questionadas.
Diversamente da tradição e da metafísica, o direito não se compromete com nenhum conteúdo, sendo antes uma forma, um procedimento vazio que pretende garantir a obediência e o comando com base em supostas normas gerais e universais, aplicáveis a todos os seres humanos, agora tratados como “cidadãos”. Nesse sentido, o direito se assemelha ao capital, que também surge nesse mesmo momento como ordem formal de equivalência universal que obstinadamente converte toda qualidade em quantidade, toda multiplicidade em unidade, todo valor de uso em valor de troca.
Em sua forma geral onicompreensiva, tanto o direito quanto o capital podem, então, funcionar como as novas instâncias de imposição da ordem na Modernidade, sem que para tanto precisem fazer referência a qualquer horizonte de valores compartilhados ou comuns, tal como, bem ou mal, a tradição e a metafísica faziam. Todavia esse mesmo caráter formal que torna o direito e o capital particularmente bem adaptados à vacuidade ontológica da Modernidade indica a radical falta de fundamento de todo poder separado, de todo comando hierárquico. Ao se apresentar como a forma geral do contrato entre sujeitos abstratos, o direito é incapaz de responder àquela questão que para os antigos não fazia sentido e que, diferentemente e talvez por isso mesmo, funda a Modernidade: por que obedecer?

O direito só pode responder a essa pergunta de forma tautológica, explicando a existência da autoridade mediante a suposição desta mesma autoridade, adotando assim um procedimento recursivo completamente alheio à única resposta democrática que poderia fechar o círculo: a afirmação da infundamentabilidade de todo poder que, portanto, só pode ser exercido em conjunto, em comum, em corresponsabilidade e coparticipação de todos os seres precários que somos. Ao contrário, o direito prefere validar a tautologia a partir da qual ele mesmo nasce reafirmando, em uma petitio principii, a própria autoridade que pretenderia fundamentar.
Para além da vulgata acadêmica, especialmente aquela encastelada nas torres de marfim do Direito Constitucional, é preciso reconhecer que o direito moderno surge como um desesperado e radical dispositivo de justificação da obediência que ameaçava se perder definitivamente diante da grande anarquia que caracterizou os inícios da Modernidade. Desesperado porque sabe ser agora impossível uma real justificação substancial do poder, como ocorria no mundo clássico e na Idade Média. Radical porque, em sua formalidade enganadora, o direito quer se colocar a salvo de todas as contestações e críticas que erodiram o anterior paradigma substancialista, pretendendo, assim como seu irmão capital, legitimar indefinidamente a obediência.
É por isso que, a partir da Modernidade, são argumentos jurídicos e não teológicos ou tradicionais os elementos alinhavados para defender a ordem desigual e dominante de fato existente, exatamente como fazemos até hoje. Temos que frisar aqui, considerando a longa e incruenta lavagem cerebral que nossas faculdades de Direito impõem aos seus estudantes, que quaisquer conquistas aparentemente surgidas graças ao dispositivo jurídico – digamos, os direitos individuais e políticos da França revolucionária, os direitos sociais do welfare state europeu e, entre nós, algo bem concreto como o Bolsa-família – são na realidade duras vitórias arrancadas ao direito, são conquistas populares que se dão não por causa do direito, mas apesar do direito e, na maioria das vezes, contra o direito vigente. Esse, contudo, por constituir-se não apenas como forma geral de atribuição de autoridade aos dominadores, mas principalmente como narrativa central de nossa época, domina a escrita e a divulgação da história. Faz parte das técnicas e dos poderes do direito a capacidade de fazer ver como progresso e evolução aquilo que na realidade foi ruptura e luta devidas à tradição dos oprimidos, conforme a expressão de Walter Benjamin.

O direito é um dispositivo que não apenas fundamenta a obediência em um tempo de desobediência que deveria se generalizar. Ele é também uma espécie de despotencializador de qualquer tentativa de questionamento da ordem dada. Isso fica muito visível quando se põe, na nossa época, o problema da desobediência. Seu caráter radical de desafio ontológico ao comando, que aponta para a originária infundamentabilidade de qualquer poder separado, hierárquico e não democrático, é domesticado ao ser tragado pela forma jurídica. Esse processo de domesticação da desobediência ganha então o simpático nome de “desobediência civil”, divulgado por autores liberais que defendem uma desobediência exercida de modo excepcional nos limites do universo civilizado do cidadão, essa forma vazia por excelência, à qual corresponde a figura espectral do consumidor e, no limite, a da própria mercadoria.
Uma rápida análise das tradições liberais e constitucionalistas que pensaram o problema da desobediência civil nos últimos 60 anos nos mostra que se trata de um movimento de limitação da desobediência, de despotencialização democrática e de controle dos sujeitos sociais chamados primeiramente a obedecer, aos quais apenas em casos excepcionais, de forma coletiva, pontual e não violenta, se permite, sempre dentro do sistema jurídico, desobedecerem civilmente. Autores como Ronald Dworkin, John Rawls, Hannah Arendt e Jürgen Habermas veem a desobediência civil como um instrumento político-jurídico, a ser usado em situações muito especiais, e nunca tendo em vista uma transformação global do sistema vigente – caso contrário se confundiria com a revolução –, mas apenas a reforma de normas ou políticas específicas particularmente injustas. Esses autores e muitos outros fazem questão de frisar que essa prática não se confunde com uma negativa geral e total do sistema político-jurídico sob o qual se vive, servindo antes como meio de autocorreção do direito ou até mesmo como teste de constitucionalidade de determinada norma.
Nesse contexto, Rawls chega a ser absurdo ao sustentar que a desobediência civil só pode existir em sistemas jurídicos “quase justos”, nos quais há problemas pontuais e bem específicos a serem resolvidos, mas que, de forma geral, respeitam o princípio da igualdade. Caberia perguntar a ele se o colonialismo inglês na Índia e a segregação racial estadunidense dos anos 50 a 70 do século passado, situações contra as quais se insurgiram milhões de desobedientes, expressam a “quase justiça” exigível em sua conceituação. Por sua vez, Hannah Arendt repete sem cessar que a desobediência civil é um mecanismo político usado para evitar a revolução e garantir a reforma ordeira no interior do sistema.
Ora, o que concepções assim parecem não enxergar é que todo o sistema político-jurídico atual se baseia em uma monstruosa injustiça, não podendo ser simplesmente reformado. De fato, vivemos uma época em que até mesmo as contraditórias funções de garantia de mínimos existenciais por parte do direito são freadas e impedidas. Hoje todo direito tido como “normal” está permanentemente suspenso diante das sucessivas crises políticas e econômicas que exigem não apenas a concentração de poderes, mas também a limitação dos direitos individuais e, na prática, a implosão dos direitos sociais. A uma situação como essa o Direito Constitucional do final do século XIX chamava de estado de exceção. Todavia, tal paradigma já não é mais válido nos nossos dias, já que o estado de exceção constitucional indicava uma situação provisória de suspensão de direitos que, paradoxalmente, servia para a afirmação e a proteção do direito – ou, mais frequentemente, do Estado ou do partido governante. Nos tempos atuais deixou de existir o caráter temporário e formal do estado de exceção, o qual se tornou permanente e não declarado, trazendo à tona a vocação do Estado de Direito, que é tornar-se ao mesmo tempo um Estado policial e uma empresa lucrativa.
Em uma situação assim, de exceção econômica permanente, na qual os mais básicos direitos são sistematicamente negados tendo em vista os imperativos de desempenho econômico e financeiro que só privilegiam uma pequeniníssima minoria rentista, chega a ser ridículo afirmar que a desobediência civil deve se dirigir a normas e políticas específicas e não ao sistema como um todo. Certamente não estamos vivendo em Estados quase justos, tal como exigia Rawls para a aplicação da desobediência civil. Ao contrário, essa prática precisa sofrer uma transformação e, abandonando o campo do direito que a domestica, a limita e a despotencializa há quase um século, conectar-se à originariedade democrática da potência popular.

Aqui vale o exemplo de Gandhi e dos indianos, que começaram a questionar normas jurídicas específicas do colonizador inglês e muito rápido perceberam que isto de nada adiantava, já que o próprio sistema colonial representava a maior das injustiças, com o que a desobediência civil passou a ser utilizada para a libertação nacional. Só precisamos de um pouco de imaginação para perceber que a situação epocal em que vivemos é muito similar à da Índia de Gandhi. No mundo inteiro, todos os povos são colonizados pelo mais cruel neoliberalismo financeiro, que não pode ser reformado, mas apenas negado em sua inteireza. Ao estado de exceção permanente, que lança mão de dispositivos jurídicos para se manter e desenvolver, só pode ser oposta uma verdadeira democracia, ou seja, um excesso constitutivo que não se deixe dominar pela retórica legislativa ou judicial cuja única função é manter e aprofundar a contínua espoliação social necessária à acumulação sem fim.
Todo o debate sobre a natureza da desobediência civil se liga a essa tentativa de reinscrever obsessivamente um dado ontológico fundamental – qual seja, o grau zero de fundamentabilidade do poder – no corpo cerrado e controlável do jurídico. É que, uma vez prevista pelo direito, a desobediência civil, assim como a greve, pode ser controlada, regrada, condicionada e, naqueles casos em que ameaçar minimamente o sistema político-econômico existente, negada. E se mesmo nessa última hipótese se insistir com a ação desobediente, o poder político pode então criminalizar aqueles que ousam fazer a pergunta que segue sem resposta: por que obedecer?
Postas as coisas dessa maneira, pode parecer não haver saída da máquina do direito, que tudo juridiciza na mesma medida em que mantém um discurso hipócrita sobre inclusão e justiça, querendo nos fazer esquecer que o direito, por mais técnico e rebuscado que seja, guarda e garante a decisão do grupo político dominante. Mas é exatamente nesse ponto que se põe a possibilidade de trazer à tona, contra o direito, suas contradições, desativando-o ironicamente, parodiando-o, brincando com ele.
Para tanto, precisamos mais do que a boa vontade de pensadores que, dando um inegável passo à frente, pretendem ver na desobediência civil não um simples direito, mas uma forma popular de interpretação da Constituição. É preciso um esforço de compreensão da desobediência civil como desobediência ontológica, ou seja, democracia absoluta. Isso significa dizer: como algo que não é nem jurídico nem antijurídico, nem nômico nem anômico, nem constituinte nem constituído, e sim desinstituinte, quer dizer, aquilo que constitui novas instituições mediante o próprio gesto de destituição das antigas. Mais ainda: cabe-nos compreender praticando e praticar compreendendo a desobediência civil como algo que está para além do direito, não porque o negue, mas porque o desconsidera, não se deixando enredar nas malhas do legal e do ilegal, do direito e do não direito.
A democracia absoluta que surge das práticas de uma desobediência civil liberada da forma-direito é aquela então que não corresponde a um tipo de governo – monarquia, aristocracia etc. – e nem pode ser definida por qualificativos mais ou menos vazios – participativa, deliberativa, representativa etc. A democracia absoluta é o fundamento necessário de todas as formas de governo, é o que torna possível a existência da comunidade dos humanos, ainda que despotencializada pelas estruturas de governo que conhecemos.
Mais ainda: a democracia absoluta desinstituinte aposta em um mundo que já não precise responder à questão da obediência, tornada memória histórica inoperante, profanada pelo gesto pós-metafísico que descobre na fragilidade de todos os viventes o terreno comum que nos permite brincar com o direito, usando-o e dele não nos apropriando, sendo cidadãos como se não cidadãos, julgando como não julgadores, instituindo como não instituidores, obedecendo como não obedientes. Nela se expressa uma potência do não que jamais se esgota no ato, mas, diversamente, afirma a positividade em uma negatividade disputada na dimensão da aposta, do jogo e da crítica radical à miserabilidade do pensamento limitado pelo presente.

A tarefa do pensar e da prática não é outra senão a criação das condições subjetivas e objetivas para tanto, o que passa, no mundo cotidiano, pela multiplicação das desobediências em escala microfísica de modo a, cuidando em comum de nós mesmos, constituirmo-nos como singularidades para as quais a obediência não é natural nem inevitável.
Viver uma vida an-árquica (sem fundamento) e desobediente (sem hierarquia, sem divisão nem comando) significa compreender que a vida humana não tem nenhuma vocação a realizar, nenhum destino histórico a concretizar, nenhuma ética natural a efetivar, nenhum dever a cumprir, sendo puramente uma vida da potência, na qual as possibilidades se põem abertas diante do ser, que não deve forçosamente realizar nenhuma delas; e é neste não-dever estrutural que reside sua específica dignidade.
Nessa perspectiva, não são mais direitos – que sempre exigem mais violência instituidora, mais polícia, mais julgamento – ou um aprofundamento das técnicas da democracia representativa – desde sempre condenada a separar violentamente o vivente da política – que podem abrir espaços alternativos nesta época. O que esses e outros dispositivos continuamente realizam é apenas reafirmar, com virulência cada vez mais clara, a regra inabalável de uma cartilha escolar em que a perigosa palavra progresso brilha em todas as páginas, indicando que, apesar de tudo, apesar dos massacres, dos pogroms, das purgas e da Ku Klux Klan, apesar dos Bolsonaros e Trumps que crescem a cada dia em nossas casas e consciências, apesar de 519 anos de escravidão, apesar do feminicídio crescente e galopante, apesar de 1/3 da humanidade não ter acesso à simples água pura, apesar da guerra fria e da perspectiva diária de um inverno nuclear, apesar de 11 pessoas decidirem no Brasil o que é a justiça, apesar de Marx na “prática” ter virado Stálin, apesar da cura gay e da escola sem partido, apesar dos mendigos queimados vivos nas ruas de nossas cidades, apesar disso tudo e de muito mais, estamos no caminho certo.
Chega. É hora de acordar dos sonhos da razão, do sono da razão, e perceber que a riqueza de uma civilização, que a riqueza de uma espécie – homo sapiens, em nosso caso – não está naquilo que ela fez, mas propriamente naquilo que ela ainda não fez, naquilo que ela pode fazer, no fato de nenhum caminho estar vedado por Deus ou pela natureza, mas antes por nossos preconceitos, nossos medos, nosso comodismo diante de um mundo que se explode. Em uma época de servidão intelectual universal como esta que nos coube viver, não é pequena a ousadia dos desobedientes que ousam pensar fora da cartilha, ousam ser mal compreendidos e rotulados, ousam não se curvar à arrogância daqueles que acham que, apesar de tudo, estamos no caminho certo porque é o único caminho, com Deus acima de todos e pátria acima de tudo. Contra esse tipo de escravidão espiritual, o que temos agora a oferecer é muito pouco, muito modesto. São só palavras. Mas caberia aqui lembrar o óbvio fato de que as palavras mudam os seres humanos e, estes, mudam o mundo.
Andityas Soares Matos
Doutor em Direito e em Filosofia, é professor na UFMG, onde coordena, entre outros, o projeto Desobediência Civil e Democracia.
Jorge Menna Barreto
Artista, doutor em poéticas visuais, leciona no Instituto de Artes da UERJ. Participou da 32ª Bienal de São Paulo, entre outras.
Como citar
MATOS, Andityas Soares. Por que obedecer? PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 13, p. 58-65, mai. 2019.