
DEMOCRACIA
SEM PARTIDO
Texto de Roberto Andrés
Ilustrações de Micrópolis
Os limites da democracia representativa bissexta e dos partidos políticos em tempos de cidadania ampliada, ruas incendiadas e tecnologias que podem tornar possíveis outros modos de organização da coletividade.
A cena se repetiu em muitas cidades. Em meio à multidão nas ruas, a faixas e cartazes dos mais variados, tiro, porrada e bomba da polícia, apareciam os gritos de “sem partido”. Ou “o povo, unido, não precisa de partido”. O alvo eram manifestantes com bandeiras partidárias, a maioria do campo das esquerdas. Várias dessas situações terminaram em violência física contra militantes.
Estávamos em junho de 2013. As inesperadas manifestações de rua abriram uma brecha no consenso, que parecia existir, de que o país finalmente decolava, com a manutenção da economia pelo consumo interno e pela exportação de commodities. Os protestos contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo foram a fagulha do maior conjunto de manifestações que o país já viu e expunham a insatisfação com os gastos bilionários com a Copa do Mundo de Futebol e os desejos, mais ou menos difusos, por serviços públicos de qualidade.
O ataque às bandeiras de partidos de esquerda trazia uma nota paradoxal. Afinal, muitos daqueles militantes frequentavam manifestações havia muito – e, agora, a chegada da multidão os expulsava delas. Naqueles dias, esquerda, direita, centro e o senso comum, essa maioria incoerente e em formação, frequentaram-se nas ruas. A violência física expunha a intolerância de alguns, mas a indisposição com os partidos era algo que ecoava na sociedade.
Consultas de opinião já apontavam que cerca de 45% da população brasileira aprova a ideia de uma “democracia sem partidos”. Em uma pesquisa da fundação Perseu Abramo, feita com 2.400 entrevistados, os partidos políticos ocupam a última posição em confiabilidade, numa lista que inclui família, igreja, governo, forças armadas, polícia, sindicatos, empresários, imprensa, etc. Apenas 5% dos entrevistados confiam totalmente nos partidos políticos e 61% não confiam absolutamente. Em penúltimo lugar, estão deputados e senadores.
Tudo isso já era suficiente para que se encarasse o debate acerca da monopolização da política por entidades privadas que, no mínimo, não contam com respaldo social. Mas muitos intelectuais preferiram ver no antipartidarismo a origem de um movimento fascista e autoritário. A lembrança de que “Mussolini governou sem partidos” e de que as ditaduras brasileiras extinguiram partidos costuma criar um pânico imediato e eclipsar o debate.
No entanto, as manifestações de rua e pesquisas de opinião apontavam o desejo por mais participação social na política, por uma democracia “mais real”. E, na verdade, o que os regimes ditatoriais buscam é impedir que as pessoas se candidatem, se manifestem, se expressem, etc. Se os partidos são, em certos lugares e momentos históricos, os instrumentos institucionais para organização de grupos políticos, proibi-los é uma forma de exercer a tirania. Mas aquilo que se proíbe poderia existir sem eles.
Há quem aponte a origem dos partidos nas cidades da Itália medieval, onde Gibelinos e Guelfos disputavam o controle de territórios. Os primeiros eram partidários do Império Romano, os segundos, do papado. Embora alguns hábitos de clã lembrem partidos políticos modernos, como o uso de adereços identificadores e a estereotipação de grupos por classes sociais, a briga, ali, era mais sangrenta: o método era o da guerra, a vitória pela morte física do outro.
Foi na Inglaterra que surgiram os primeiros partidos políticos da maneira como os conhecemos. No século dezessete, Whigs e Tories já disputavam poder, ocupando o parlamento e confabulando contra ou a favor do monarca da vez. No contexto da revolução industrial e da expansão do sufrágio, esses agrupamentos acabaram derivando para partido Liberal e partido Conservador. Começam como partidos da nobreza para, pouco a pouco, serem ocupados pela burguesia e pela alta classe média.
Assim eram os partidos políticos nas repúblicas nascentes do século dezenove: instrumentos de manutenção do poder do Estado por oligarquias, que o disputavam entre elas. Como afirma o filósofo Jacques Rancière em O ódio à Democracia, o sistema representativo nasce não como um passo rumo ao “poder do povo”, mas para a manutenção de elites no controle do Estado.
No Brasil, o primeiro partido político visava à proclamação da República, acontecimento que abre espaço para o surgimento de outras legendas. Mas elas nunca tiveram vida longa. Golpes de Estado extinguiram partidos políticos em 1930 e em 1966, fazendo com que o que vivenciamos como política partidário-eleitoral tenha menos de quarenta anos.
Curioso que, separada das repúblicas europeias e da América do Norte por um oceano, uma monarquia longeva e duas ditaduras, a democracia representativa brasileira apresente, hoje, os mesmos elementos detectados por Max Weber em seus estudos sobre a política no século dezenove. O sociólogo alemão denunciava o patrimonialismo dos partidos políticos (o uso de recursos do Estado para alimentar a máquina partidária) na Inglaterra e nos Estados Unidos.
O modelo se estrutura em torno do político profissional, que deve conquistar mandatos em parlamentos, prefeituras, governos. Vencido o pleito, o político entra em um círculo ascendente de poder no partido: ele passa a ter à sua disposição diversos cargos no Estado, que distribui aos militantes. O responsável por essa distribuição, na Inglaterra oitocentista, se chamava whip. Uma personagem discreta, mas essencial, era o election agent, geralmente um homem de negócios que ia atrás do dinheiro para financiar as eleições. Qualquer semelhança com os personagens do nosso noticiário político-policial de cada dia não é mera coincidência.
O poder na ocupação e venda de cargos estatais faz do partido, nas palavras de Weber, “empresa política dotada de forte estrutura capitalista”, organizada, rígida e hierárquica. Uma máquina cuja engrenagem funciona para a manutenção e ampliação do poder, tendo o Estado como fonte de recursos e o patrimonialismo como modus operandi.

Democracia representativa.
A abordagem de Weber é quase elogiosa se comparada às Notas sobre a extinção geral dos partidos políticos, de Simone Weil. O texto é de 1940, mas permaneceu inédito até 1950, sete anos depois da morte da filósofa a quem Albert Camus se referiu como “o único grande espírito do nosso tempo”. É no contexto da ascensão do partido nazista alemão, portanto, que as Notas foram escritas. Mas suas reflexões vão muito além.
O argumento das Notas é estruturado a partir de três “características essenciais” dos partidos políticos: são máquinas de produzir paixões coletivas; são organizações construídas para exercer pressão sobre cada um de seus membros; têm como finalidade única produzir seu próprio crescimento. “Graças a essas três características, todo partido é totalitário em germe e em aspiração”, afirma a autora, que cresceu próxima do partido comunista francês, no qual militavam vários de seus amigos.
As três características são complementares. A obsessão dos partidos pelo crescimento faz deles empresas com objetivos muito claros, de curto, médio e longo prazo. Se você conquista uma prefeitura, o próximo passo é a sua região. Se conquista o país, isso é pouco diante do planeta. “Nunca se conceberá que, em algum momento, um partido tenha um número excessivo de membros, de dinheiro, de votos”, aponta a filósofa.
A finalidade máxima do crescimento coloca uma pressão coletiva sobre os membros associados. Se você, por algum motivo, acredita que um político opositor a seu partido tem a opinião mais justa sobre determinado assunto, declarar essa posição vai na contramão do objetivo geral da sua instituição. Você certamente não será recompensado.
“É impossível examinar os problemas complexos da vida pública tendo que conciliar, de um lado, a atenção à verdade, à justiça e ao bem público, e, de outro, manter a atitude que convém aos membros de um certo grupo”, argumenta Weil, que oferece uma metáfora curiosa para essa situação: é como se uma pessoa dedicada à matemática tivesse que solucionar problemas complexos evitando os resultados de números pares, pois seu grupo defende números ímpares.
Outros exemplos são mais provocativos: “Quantas vezes, na Alemanha, em 1932, um comunista e um nazista, debatendo nas ruas, chegavam à vertigem ao perceber que concordavam em todos os pontos!”. A autora era crítica da ditadura soviética e afirmava que os burocratas comunistas eram tão opressores para a classe trabalhadora quanto os capitalistas. Seus artigos receberam réplicas do próprio Leon Trotsky, que a tachava de “esquerda radical”.
As Notas de Weil são repletas de frases fortes e de efeito (“Se confiássemos ao diabo a organização da vida pública, ele não poderia imaginar nada mais engenhoso”, “A extinção de todos os partidos políticos resultaria em bem puro”), mas não ficam por aí. Ela demonstra com muita clareza como a proliferação da lógica dos partidos na sociedade leva ao binarismo e à divisão do mundo em facções, como se tivéssemos de tomar partido em toda e qualquer situação – em vez de analisar a fundo, refletir, ponderar, avaliar, duvidar.
Quando a ocupação do pensamento pela guerra de clãs encontra-se com as redes sociais, esses territórios férteis para mal-entendidos e querelas inúteis, o resultado é bem o que vemos no Brasil de hoje: polarização radical, debate esvaziado de conteúdo, maniqueísmos de toda sorte, familiares e amigos rompendo relações como se o mundo se restringisse à disputa entre azuis e vermelhos. Discussões repletas de violência e mal-estar que não saem do lugar, tornando cada vez mais distante o aprofundamento dos debates que urgem.
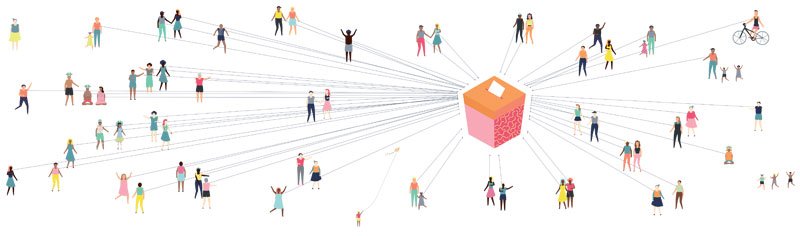
Democracia direta.
Eu não conhecia essas Notas – embora intuísse alguns de seus argumentos – quando me filiei pela primeira vez a um partido político. Tampouco conhecia a assertiva de Robert Mitchels segundo a qual “o destino de todo partido político é a burocratização, oligarquização e hierarquização”, presente no livro Sociologia dos partidos políticos, de 1911. Minha breve experiência prática, no entanto, confirma muitos postulados desses autores.
Estávamos em março de 2015 e um grupo propôs a ocupação das eleições municipais do ano seguinte. O desejo, próximo ao que estava sendo gestado em cidades da Espanha, era construir candidaturas cidadãs, abertas para a sociedade, em que as instâncias de decisão não seriam mais as fileiras partidárias.
Enquanto ainda engatinhávamos, a Espanha viveu seu furacão eleitoral. Em maio daquele ano, diversas candidaturas cidadãs venceram as eleições em cidades como Barcelona, Madri, Valência e Zaragoza, com pessoas comuns passando a ocupar a prefeitura. Algo parecido com o que se sonhava em Belo Horizonte – a sociedade tomar o Estado de assalto – mostrou-se possível na península Ibérica. Um passo rumo à gestão da cidade por quem nela vive estava sendo experimentado.
Um mês depois, no México, um rapaz de 26 anos se tornava o primeiro deputado sem partidos do estado de Jalisco. Com um orçamento cinco vezes menor que o de seus concorrentes, Pedro Kumamoto venceu partidos tradicionais com uma campanha surpreendente. Eleito deputado, ele hoje abre mão de 70% de seu salário e contratou seus assistentes por chamada pública. Tem trabalhado para baixar o valor de campanhas e aproximar as decisões políticas da sociedade.
O dispositivo legal que tornou possíveis os feitos na Espanha e no México, que não existe no Brasil, é o da candidatura independente. A partir da coleta de um certo número de assinaturas, permite-se que um grupo de eleitores dispute pleitos. No México, essa possibilidade foi conquistada a partir das revoltas de 2011, que resultaram em uma reforma política. Não fosse isso, a candidatura de Kumamoto nunca teria sido possível: ele teria que enfrentar a longa fila dos partidos e jogar o jogo que se joga para conquistar espaço.
O mesmo ocorreu na Espanha. Para se lançar uma candidatura cidadã em uma cidade como Madri, bastam 8.000 assinaturas. O lançamento de confluências como Ahora Madrid e Barcelona en Comú teve dezenas de milhares de assinaturas que as tornaram irreversíveis. Partidos como Podemos, Izquierda Unida e Equo acabaram entrando nas coligações.
No Brasil, a exclusividade do direito à candidatura é dos partidos. Para criar um partido, são necessárias cerca de 500.000 assinaturas em, pelo menos, nove estados da federação. As assinaturas têm de ser em papel, o que torna o processo dispendioso e oneroso. Toda essa barreira de entrada aumenta o capital de quem consegue chegar lá, levando ao limite a organização do partido como empresa capitalista e patrimonialista, de uma maneira que Max Weber talvez não tenha sonhado nem em seus piores pesadelos.
Ao fim das contas, a lógica dos partidos vai sempre prevalecer, pois é assim nos monopólios. Gastamos, eu e outros que entraram nessa empreitada, longas horas em tantas reuniões, tentando todo tipo de tática para estabelecer algo que parecia óbvio: uma aliança ampla, com chances de disputar as eleições, superando pequenas diferenças e abrindo ao máximo, para a cidade, o poder de decisão sobre as candidaturas.
O programa de governo seria construído em uma plataforma na internet e em debates em praças públicas. Uma grande consulta popular pela internet decidiria quem seria o candidato ao executivo. As principais decisões seriam coletivizadas. Em suma, era algo parecido com democracia, ainda que representativa, que se buscava. Tudo isso foi inviabilizado, ou desfigurado, nos dois partidos em que se tentou a construção. E, aqui, estamos falando de partidos que parecem representar, com todas as limitações, as alternativas possíveis para o país hoje, Rede e Psol.
É comum a crítica de que o Brasil tem uma enormidade de partidos políticos, muitos deles servindo somente ao jogo fisiológico. Constatação verdadeira, mas que costuma saltar para a ideia de que a solução estaria na restrição. A meu ver, quanto mais restrita for a possibilidade de se candidatar, mais o patrimonialismo permeará a disputa. Assim como na questão das drogas, a boca do tráfico perde sentido se a farmácia da esquina vende maconha. Se qualquer aliança cidadã com um mínimo de representatividade pudesse lançar candidaturas e os tempos de TV fossem mais equilibrados, legendas como PHS, PMN, PROS, PSTC e tantas outras perderiam grande parte de seu valor de troca no mercadão da política.
A política representativa partidária parece ter mesmo chegado a um esgotamento. Votamos a cada quatro anos, ou a cada dois, mas temos a sensação de que isso pouco interfere nos rumos do Estado e da coletividade. O cineasta Jean-Luc Godard dizia que as crianças são “prisioneiros políticos”, mas, hoje, parece que os adultos também são. Talvez tenha chegado o momento de buscar alternativas às regras do jogo, de rever a associação que nos parece tão natural entre sistema representativo e democracia.
Muito se diz acerca da Grécia ser o berço da democracia, mas os métodos democráticos daqueles atenienses nada tinham a ver com as repúblicas atuais. Tanto pela prática da democracia direta, nas assembleias em que todos podiam participar, quanto pela formação dos comitês e conselhos, eleitos por sorteio. Em seus escritos sobre política, Aristóteles referia-se ao sorteio como instrumento democrático e garantidor da isonomia, ao passo que as eleições favoreceriam os oligarcas em sua busca pelo poder.
Depois da Grécia, a prática do sorteio de representantes foi utilizada ao longo da história na Itália medieval, nos cantões suíços, na Índia. E tem sido proposta por teóricos mundo afora como uma alternativa às eleições, com o argumento de que é um sistema menos propenso à corrupção e de que gera mais cidadania, a partir do momento em que qualquer um pode ser representante.
Um experimento recente foi feito na Islândia, quando 950 pessoas foram selecionadas por sorteio para revisar a constituição do país. As propostas de alteração da constituição que resultaram desse projeto incluíam transformar os recursos naturais do país em bem comum, limitar reeleições, permitir que 15% da população pudesse propor projetos de lei ao congresso. As propostas foram aprovadas em um referendo popular, mas foram barradas pelo congresso.
Outros experimentos, ao longo da história, mostram que a prática pode ampliar a razoabilidade das decisões e reduzir as disputas de poder, visto que as pessoas sorteadas não estão ali para construir carreira. Por mais estranho que possa nos parecer, é difícil sustentar que o sorteio de 513 pessoas aleatórias para ocupar a câmara dos deputados resultaria em algo pior do que o que temos hoje. E a economia de tempo e dinheiro com eleições não seria nada desprezível, assim como a economia de discussões infrutíferas no Facebook.
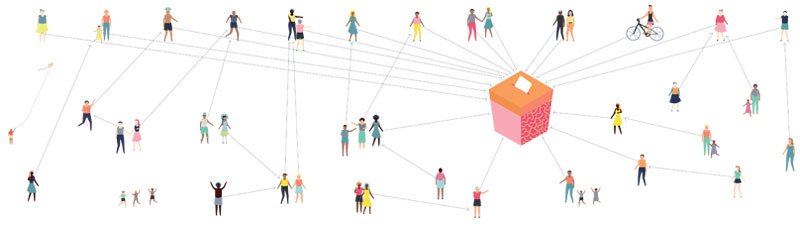
Democracia delegativa.
O outro aspecto da democracia ateniense era a participação direta das pessoas, aquilo que, nos protestos de 2011, se chamou de democracia real e que vem florescendo em experiências políticas que bebem daquele momento. Em Madri, a nova prefeitura colocou no ar uma plataforma para deliberar a destinação de 60 milhões de euros. Diferentemente dos orçamentos participativos que conhecemos no Brasil, na decide.madrid, qualquer cidadão pode submeter uma proposta. A participação não é uma prova de múltipla escolha formulada pelo Estado, mas uma página em branco em que a população faz as perguntas.
Mais de cinco mil propostas foram submetidas e votadas por cerca de 45 mil pessoas. As mais votadas na primeira fase foram selecionadas e estudadas por técnicos da prefeitura de modo a chegarem a uma segunda etapa de votação já com orçamento definido. Nessa etapa, a população escolhe o que fazer com o dinheiro público de maneira transparente e coletiva.
Entre as propostas mais votadas, que serão executadas, estão a ampliação da rede de coleta seletiva, a criação de casas de acolhida para mulheres, o desenvolvimento de um plano de reflorestamento urbano, a instalação de energia solar nos edifícios públicos, a instalação de banheiros públicos nas ruas, estacionamentos de bicicletas em escolas, hortas urbanas familiares, etc. Uma agenda urbana avançada em termos sociais, ambientais e de lazer, viabilizada por um site simples e uma prefeitura aberta.
Há iniciativas semelhantes, como a do Partido de la Red, na Argentina, mas a tomada de prefeituras de grandes cidades faz da Espanha hoje um laboratório capaz de experimentar e validar teses de democracia direta. Uma das críticas que surgem é de que os 45 mil votos são muito poucos perto dos 3,2 milhões de habitantes de Madri. Por outro lado, não deixa de ser significativo diante do número de vereadores e gestores públicos, aqueles que, na democracia representativa convencional, decidem a destinação dos recursos de todos.
Fato é que a democracia direta pode ser exaustiva. Levada ao limite, significaria que todas as pessoas poderiam votar em todas as decisões coletivas, tornando a vida um interminável plebiscito. Penso em um amigo que participou, na década de 1970, da ocupação de uma vila abandonada no País Basco e viveu durante dez anos um processo de gestão comunitária. Dentre as memórias do período, muitas delas afetuosas, está a participação em mais de mil assembleias, o que resulta em uma a cada três dias.
É diante das limitações do sistema representativo e das dificuldades operacionais da democracia direta que surge a ideia de democracia delegativa ou líquida. Apresentada pela primeira vez pelo político americano James C. Miller III, em 1969, e aprofundada em artigos e experimentos a partir dos anos 2000, consiste em combinar voto direto com delegação.
O sistema pressupõe o uso de tecnologias da comunicação e informação, pois tem uma dinâmica fluida e complexa. Para cada iniciativa do governo ou projeto de lei, todas as pessoas podem optar entre votar diretamente ou escolher um representante. Isso permite que cada um possa votar em temas de que tem conhecimento, sem ser obrigado a participar de todos os temas.
Eu poderia votar por mim mesmo em pautas de mobilidade urbana, delegar a Fernanda as de educação e a Renata as de arte e espaços públicos. Renata, por sua vez, poderia delegar a Wellington pautas de espaços públicos, de modo que meu voto também iria para ele. Se eu não gostar do voto de algum dos meus delegados, posso mudar instantaneamente. O recall – possibilidade de retirar um político eleito com atuação insatisfatória – é imediato e não necessariamente absoluto.
Essa democracia híbrida permitiria diferentes níveis de engajamento: desde se votar diretamente em todos os temas até poder delegar todos os seus votos a representantes. Mesmo nesse segundo caso, há vantagens em relação ao sistema representativo bissexto. A primeira é poder eleger pessoas diferentes para temas diferentes e não uma única pessoa que deveria lhe representar em todos os temas. A segunda é poder mudar a qualquer momento, o que obriga o representante a um compromisso muito mais sólido com a pauta defendida.
A proposta foi experimentada, a partir do ano de 2010, no Partido Pirata Alemão. O software desenvolvido, LiquidFeedback, permite o sistema delegativo em tempo real e chegou a ser utilizado de maneira consultiva para decisões internas do partido. No ano seguinte, o sucesso da iniciativa fez com que uma versão fosse aplicada no Parlamento Alemão, de forma a colher a opinião das pessoas para embasar decisões dos deputados.
No entanto, nessas iniciativas, não houve controle das identidades reais de usuários, de modo que o sistema não pôde ter aplicação deliberativa – como foi feito em Madri. Uma das dificuldades operacionais de implementar a democracia delegativa está em, por um lado, garantir o voto secreto pela internet e, por outro, permitir que se possa verificar e recontar votos. Andreas Nitsche, do site Liquid Democracy, chega a afirmar que, por isso, o sistema não “oferece alternativa à República”.
No Brasil, praticamos o voto eletrônico que, teoricamente, garante anonimato e verificabilidade. Ainda que pairem dúvidas sobre as possibilidades de forjar resultados em urnas eletrônicas com votação secreta, o desenvolvimento de tecnologias em rede tende a levar a soluções mais confiáveis. Para isso, seria necessário um modelo descentralizado, “onde nenhuma pessoa, organização ou servidor precisaria ser 100% confiável”, aponta Bryan Ford, autor de um dos artigos pioneiros sobre o tema, de 2002, e de um dos melhores compilados sobre o estado atual da discussão, de 2014.
Imaginar um sistema de democracia delegativa permite vislumbrar outras dinâmicas, rotinas e expedientes para a atuação política, em que as pessoas ficam mais próximas das decisões, mesmo quando escolhem não votar diretamente em um tema; em que representantes insatisfatórios tendem a perder importância; em que a política profissional perde espaço para o engajamento cidadão; e em que os partidos políticos, da maneira como os conhecemos, são absolutamente desnecessários.
Enquanto nada disso acontece, continuo filiado a um. Até porque uma questão fundamental que sequer foi arranhada aqui é: como alterar um sistema que, mesmo sendo ineficiente, gerador de privilégios e empobrecedor do debate, beneficia aqueles que detêm o poder de defini-lo?
Micrópolis
Coletivo de Belo Horizonte que realiza projetos de pequena escala nos campos da arquitetura, pedagogia, design e urbanismo.
Como citar
ANDRÉS, Roberto. Democracia sem partido. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 9, p. 20-27, set. 2016.