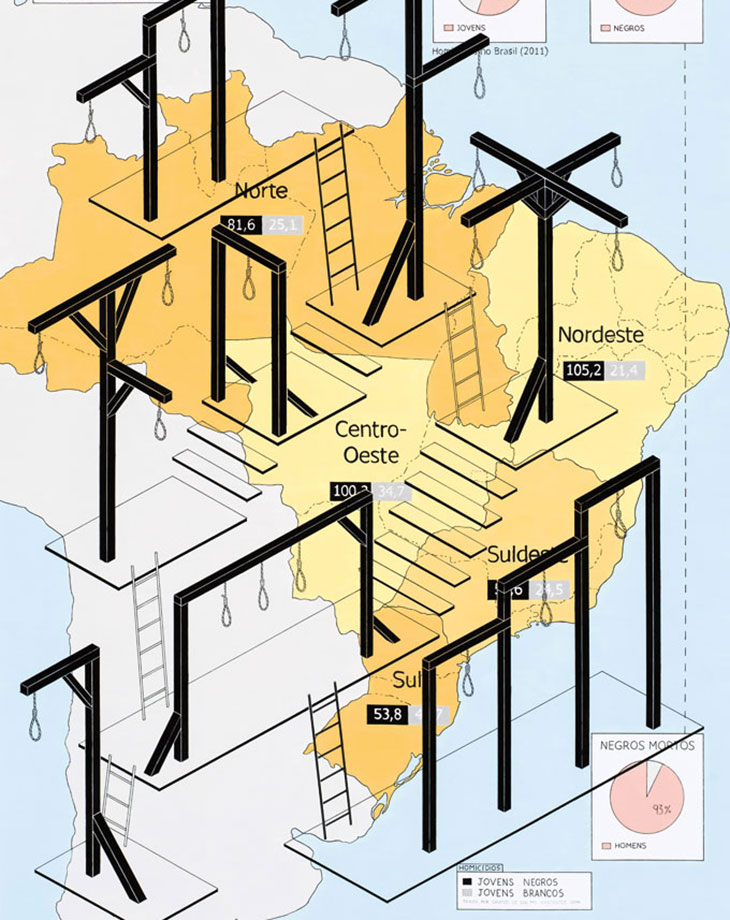MULHERES-CABAÇAS
Texto e fotografias de Creuza Prumkwyj Krahô
Os antropólogos que vão aos Krahô só pesquisam os homens. Eles não pesquisam as mulheres. Neste ensaio, a pesquisadora busca alcançar o entendimento do seu povo, os Krahô, ouvindo as mulheres.
Ouça o texto
Moro no sul do Maranhão, no Estado do Tocantins, na Aldeia Nova, onde somos uma população de 180 índios. Nasci na aldeia Galheiro, em 5 de fevereiro de 1971, ao meio-dia, perto de um pé de jatobá chamado de tehcré, onde começou a minha vida sofredora neste mundo, pois não é fácil ser uma mulher indígena.
Todas as horas eu queria mamar e minha mãe queria dormir, mas ela não podia porque tinha que cuidar de mim. Queria me ver grande, então cuidou de mim, fez os resguardos necessários e eu cresci. Tenho um metro e cinquenta e oito de altura, sou morena clara, tenho cabelos pretos e anelados, e hoje sou uma mulher Krahô.
E assim, essa mulher virou andarilha, caçando uma vida melhor para sua população sem direitos de vida, sem direito de ser pessoa no mundo em que vivemos, a escapar de uma mão que apertou nosso punho. Estava e estou em busca de direitos que nossos antepassados não viveram, como o direito à educação e à saúde.
Hoje tenho uma vida corrida: estudei no Estado do Tocantins e terminei o magistério. Pensei que não iria mais estudar e novamente uma pessoa me disse: “Vai, você consegue!”. E, mais uma vez, fui fazer, passei na prova do mestrado e tive que deixar a minha família. Peguei minha mala e saí pensando o porquê de tudo aquilo… Deixar minhas crianças com o pai e imaginando se ele ia cuidar do jeito que eu cuido. Às vezes eu chorava com muita dor no coração, tanta que me apertava como uma corda no pescoço, e eu saía de perto das pessoas para que não vissem.
Fui aprovada na Universidade Federal de Goiás e passei cinco anos assim. Nunca me acostumei, mas terminei o curso e aprendi com o sofrimento, muitas vezes sem ter recursos para comer nas viagens da aldeia para a cidade. Havia ocasiões em que eu não tinha dinheiro para comprar biscoito nem picolé, as coisas mais baratas. Eu não tinha bolsa de estudo, não tinha nada e ficava só vendo meus amigos comerem. Às vezes, alguns colegas com boas intenções ofereciam: “Você quer um sorvete?”. E eu: “Sim, aceito”. Depois que me acostumei com eles, muitas vezes ajudavam-me compartilhando quase tudo comigo. Eu fiquei muito feliz com meus amigos e amigas não indígenas, que chamamos de Cupen. São momentos difíceis sair de sua casa para estudar ou trabalhar. Não há espaço na cidade para o indígena e a vida urbana torna-se muito complicada.
Após o contato com os não indígenas, passamos a sofrer para aprender a cultura dos Cupen. O mesmo parece não acontecer com muitos Cupen, que não se interessam por nos conhecer e, assim, respeitar. Procuro com muito esforço entender a maneira de pensar e viver dos Cupen. A maioria das mulheres Mehi – assim são denominados os indígenas, na língua Krahô – não fala a língua portuguesa, mas entende.
Apesar da mistura com os Cupen, nunca perdemos nossas maneiras de ser e viver e assim não esquecemos os conhecimentos de ser Mehi. Ainda temos marcadas em nossos corpos as festas, cantorias, corridas, pinturas, caça, pesca e tranças das cestarias. Nós somos Mãkraré, mas os brancos, não indígenas, nos chamam de Krahô. E, para nós, a mulher nunca deixa sua família assim, portanto, isso tudo que estou vivendo é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi com incentivo do marido, uma pessoa especial, e das filhas, que saí para estudar, pois sabiam que o estudo iria me permitir ter conhecimentos importantes e necessários sobre os Cupen.

Fase final do ritual de iniciação da menina e do menino Krahô, que em breve já poderão namorar.
Todos os antropólogos que vão aos Krahô só pesquisam os homens. Eles não pesquisam as mulheres. A mulher fica de lado, sempre lá para os fundos da casa. Eles não chamam as mulheres para pesquisar. Fiquei observando isso desde quando meu marido era vivo e eu me perguntava: por que os antropólogos vão à aldeia e só pesquisam os homens? Só andam com os homens? Os mensageiros da aldeia são os homens, para dar notícia, para distribuir. Mas é falsidade os homens explicarem tudo porque não sabem tudo.
As mulheres sabem muitas coisas, passam o dia inteiro fazendo enfeite para os caçadores, porque eles não podem andar sem enfeite. Se andarem sem enfeite, não matam nada. Aprendemos assim: sabemos fazer desenho no corpo, pintar, cortar o cabelo do jeito Krahô… Só quem corta o cabelo das pessoas é a mulher mais velha que não menstrua mais, uma mulher nova não pode cortar o cabelo de ninguém. A gente tem que participar só olhando mesmo, olhando muito como corta, como arranca, porque o cabelo é arrancado um por um. Mas, mesmo assim, os homens são os mensageiros para levar as mensagens do trabalho das mulheres para os antropólogos e devolver de novo para as mulheres.
Ao pesquisar, vi que a maioria das coisas não é do jeito que estão registradas, porque são as mulheres que fazem e os homens que contam. Mal acredito que tinha tanta coisa guardada com as mulheres mais velhas! Nunca saiu nada das histórias das mulheres Krahô, de como faziam as coisas, nenhum livro conta a mulher Krahô. Nenhum. O antropólogo pode ser mulher, pode ser homem, o que for, vai pesquisar os Krahô e só procura os homens.
Eu pesquisei a maioria das mulheres. Eu fui atrás só das mulheres. Na aldeia Pé de Coco, fui pesquisar as mulheres e depois fui pesquisar o pajé Tejapoc, que morreu no ano passado. O que as mulheres me contaram, já ele me contou diferente das mulheres. Eu juntei todo mundo e perguntei: “O que é verdade aqui agora?”. Eu estava com um som ligado ouvindo o homem falar e perguntei: “Isso é verdade, o que ele está falando?” E a mulher: “Não!”. “E agora? Eu quero saber quem vai contar a verdade para mim!” E foi assim até chegar ao fim da pesquisa.
Chegou um ponto em que as mulheres botaram os homens para trás. Sabia que tinha alguma coisa certa ainda. E foi com as mulheres. Aí eu falei para os senhores: “O homem também tem muita coisa para fazer, só que tem coisas que os homens falam que é deles e não é”. As mulheres antropólogas que já vi chegarem só pegam os homens para andar pesquisando. Olham para a mulher e vão embora, acham que ela não tem nada para dizer. Mas quem tem mesmo muita coisa para falar e muita coisa para fazer e com quem devemos aprender são as mulheres.
Quando cheguei à aldeia Rio Vermelho, passaram dois dias e a velha Ahcrokwyj faleceu. Eu fiquei triste demais. Porque eu ainda tinha que conversar com ela. Conversei com ela no hospital, perguntando se estava melhor. No último dia em que conversamos foi por telefone e ela me disse: “Eu não estou bem. Vou falar a verdade, não vou viver, vou morrer mesmo”. Nossa, isso me deu uma fraqueza na perna e pensei: “Vou perder minha entrevista agora”. Então ela morreu e eu tinha que pesquisar sobre como ela estava fazendo os remédios para evitar gravidez. Ela que fazia os remédios do mato para as mulheres não engravidarem. E eu perdi essa parte porque não cheguei a tempo, envolvida com outras entrevistas. Porque como fazer para engravidar eu já tinha gravado com ela, mas a entrevista que eu queria, sobre o remédio – que folha é, que raiz é, que casca é, como fazer para não operar as mulheres Krahô – eu perdi.
Na aldeia Rio Vermelho tem umas mulheres que só têm um filho e eu perguntei: “Por que você só tem um filho e não tem outro?”. “Porque nós tomamos remédio.” “E você não quer crescer, não?” “Não, porque não dá para ficar com um monte de filho.” Aí eu perguntei quem fazia esse remédio: “A Ahcrokwyj”. E Ahcrokwyj me falou: “Quando você voltar da cidade, você marca um dia e a gente vai sentar para eu te mostrar como é que faz”. E foi essa parte que perdi. Não sei se tem outra mulher Krahô ainda viva que faz o remédio, pois já perguntei a várias pessoas e não encontrei outra.

Diálogo cerimonial das mulheres mais velhas com os pajés sobre a guarda da música e a apresentação. Mulheres cantoras que guardam na cabeça a semente que veio das mulheres-cabaças.
Eu perguntava para as mulheres o que acontecia. Eram vários os resguardos. Muitos resguardos. Alimentação, roça, como plantar banana, por que plantar banana. Por que plantar mandioca, milho, arroz. Depois eu passei a pesquisar os caçadores e os pajés. O que significa pajé? O que é o pajé que os brancos falam? Porque nós chamamos de Wajakà. Wajakà, para nós, é uma pessoa que enxerga com outro olho. Não é com esse olhar que nós olhamos. Ele tem um olho atrás e outro nos braços. Esse é o pajé. Está de noite e ele está enxergando tudo, para ele é dia. Já de dia ele não enxerga, porque está noite para ele. O animal que conversa com ele é da noite.
Os pajés mais velhos que morrem viram animais e conversam com os pajés novos, se traduzindo até chegar ao vivo, falando qual planta serve para febre, para dor de cabeça, para menstruação. Para tudo ele ensina o remédio. Então pesquisei para saber quem é pajé. São dois tipos de pajé, o feiticeiro e o do bem, o mau e o bom. Então fui atrás do mau primeiro, para saber por que ele é mau assim. E ele me contava a versão dele. Ele faz um caçador morrer da noite para o dia. E essa doença do pajé o médico não cura. Pode dar remédio, pode dar injeção que o doente continua gritando e a dor não para.
Eu visitei uma pessoa desse jeito no hospital. O pajé entrou para curar a pessoa dentro do hospital porque eu sabia que ali não era coisa que tinha vindo pelo vento. Porque a doença que vem pelo vento, ela pega quando você está dormindo, a doença entra no seu corpo. Tem um vento de madrugada, umas três horas, um vento forte que carrega as doenças. Ele dá uma soprada forte e para de vez. Lá na aldeia, quando está ventando, a gente embrulha a cabeça da criança. E nós, adultos, viramos de costas. Entre os Krahô, os pajés do bem já estão velhos, não vão demorar a morrer. Se os pajés do mal juntarem para fazer um feitiço, eles os matam rapidinho.
Teve uma senhora que se chamava Pipi, da aldeia Campos Lindos. Ela foi se aposentar lá em Goiatins. Eu estava interessada em perguntar algumas coisas para ela e falei: “Posso gravar você?”. E ela perguntou “Você vai me pagar quanto?”. Eu falei: “Quando eu me aposentar, eu te pago”. Era brincadeira minha e dela. “Quando eu gravar você, você vai me contar histórias, vou traduzir e nós vamos ganhar com essas histórias! Mas você tem que contar as histórias primeiro.” Queria que ela falasse sobre o resguardo para ser corredora, porque ela sabia. Por que as meninas corredoras da aldeia não dormem a noite toda? E não podem namorar também? Ficamos três dias conversando. Fizemos peixe assado. Ela contava, eu ficava ouvindo e gravando.
Depois de uma semana, fui para a roça trabalhar e me despedi dela. E ela falou: “Vou te abraçar porque talvez eu não volte a te ver”. E perguntei por que estava falando aquilo. “Eu estou com medo, Creuza, agora que estou aposentada e vou para a aldeia Campos Lindos, se o pessoal souber que estou aposentada vão até me matar”. E não era verdade? Ela tirou o dinheiro, fez compras e foi para a aldeia dela. Depois de uma semana, às seis da tarde, escutei uma pessoa gritar o meu nome do outro lado do rio. Era um bilhete falando que Pipi tinha morrido. Não dava tempo de ir lá. Foi rápido. Deu uma diarreia, ela começou a passar mal, foi para a cidade e morreu. Nem o médico a medicou.
Pesquisar as mulheres é diferente de pesquisar os homens. Mas também fui atrás dos homens mais velhos, que me conhecem, me respeitam. Tem pajés que são mulheres. Tem uma pajé mulher boa, muito boa. Mas ela não pode se meter no meio de muito pajé homem que ela se prejudica. Então ela sempre está fora. Se me falarem que um pajé não é bom, eu já vou desviando o meu caminho. Não dá para conversar com ele. Ele não ensina remédio para ninguém, só para ele mesmo. Da parte do pajé mau, nem a família dele ele cura. Ele só faz o mal mesmo.
Na minha pesquisa para alcançar os entendimentos dos Krahô sobre os resguardos, os velhos e velhas me falaram sobre a história das mulheres-cabaças e dos homens-croás e me orientaram sobre como organizar todas as informações que coletei. De acordo com a história que trata dos primeiros Mehi, as mulheres-cabaças foram as primeiras pessoas que aprenderam com Sol, nosso herói criador, sobre os resguardos e, assim, este saber foi sendo repassado.
Sol ensinou à mulher-cabaça que, para fazer os reguardos, elas devem usar raízes, cascas e folhas de plantas do cerrado. É uma sabedoria feminina: as mulheres mantêm vivas na aldeia as práticas de resguardo e cuidados com o corpo, elas têm essa memória. Elas sabem qual alimento deve ser usado, como deve ser comido. Todo o processo de iniciar o resguardo, vivê-lo ao longo do tempo e finalizá-lo tem o intuito de produzir uma renovação na comunidade e na vida da pessoa.
Assim, renova-se a vida da mulher, do homem, da menina e do menino, de todos. Por exemplo, a mulher, depois de ter o primeiro filho, inicia um conjunto de resguardos e, quando finaliza, estará forte, pois não adoeceu e nem a criança e, agora, está renovada para se alimentar de outras coisas e usar folhas em seu corpo que não irão prejudicá-la ou ao bebê. A vida se renova, ela sai da casa, alcança o pátio e se envolve em outras atividades.
Os homens também entram em uma nova vida após terem realizado o resguardo do primeiro filho. Mas quem mantém os resguardos, as tranformações das pessoas e a renovação da vida na comunidade é a mulher. A mulher organiza para os homens viverem o resguardo, finalizarem e renovarem suas vidas e o movimento da aldeia acontece. As mulheres Mehi aprenderam com as mulheres-cabaças a serem orientadoras dos homens.
As cestarias guardam uma memória. Sol deixou a mulher com o corpo para carregar as coisas e os cestos são usados no corpo da mulher para isto. Sol ensinou a fazer o cesto como, por exemplo, no formato do desenho da casca do tatu. A memória sobre esse fazer é repassada e aquelas pessoas que têm a memória boa conseguem fazer o cesto, aquelas que vivem o resguardo da memória direito.
Havia uma aldeia onde surgiu o resguardo da memória. Nessa aldeia, as pessoas iam esquecendo o jeito de ser e viver Mehi e saíam correndo para o mato virando criaturas e seres da mata. Um velho ia dando os nomes desses seres. O Tewa foi um desses, era um Mehi que havia esquecido os resguardos. Assim, ele queimou sua perna que ficou pontuda e fina. Ele saía matando os Mehi pelas costas com essa ponta fina. Esse Mehi, que perdeu a memória, se transformou nessa criatura da floresta que gosta de matar os Mehi.
O resguardo da memória também faz a pessoa se tornar cantor e cantora, e isto deve começar quando ela ainda é pequena, continuando até a morte. Os velhos e velhas passam para os jovens esse conhecimento e jeito de viver Mehi. Essa sabedoria a ser repassada para os jovens são os cantos Mehi. Manter a memória de ser Mehi, se fortalecendo, são elementos importantes para não se transformar em criaturas da floresta.
Esse resguardo envolve aprender os cantos que estão relacionados com não comer coisas em panelas e pratos, mas só no moquém. A pessoa deve comer alimentos assados. Usar casca, raiz e capim para limpar a cabeça. Os cheiros, as essências, as consistências dos utensílios e produtos dos não indígenas devem ser evitados.
Nem todos serão cantores e cantoras, alguns demonstram que se transformarão em cantor ou cantora por volta dos nove anos de idade. Os pais e avós começam a inserir a criança nesse saber e ela não terá a mesma convivência que as outras, terá alimentação especial e uso de artesanato e pinturas também especiais. Ao longo da vida, essa criança será preparada para ser um cantor ou cantora e terá o domínio sobre a memória Mehi.
As mulheres cantoras guardam uma semente na cabeça, que veio das mulheres-cabaças. Essa semente é como um computador que guarda a memória. Para essa memória ser guardada e limpa, essas mulheres devem usar o sereno, usar vários tipos de plantas medicinais, remédios do cerrado, e devem tomar banho no rio pelas manhãs. Há músicas do dia, da noite, da meia-noite, da madrugada. Para gravar tudo isso, essa mulher deve fazer um resguardo rígido que transforme seu corpo para ter a semente. Deve usar também um remédio para enxergar bem, para ver a noite e não sentir dor. Elas seguem um resguardo rígido, só podem fazer sexo durante o dia, não durante a noite. Ao longo da noite, elas cantam muito.

Retrato da avó de Creuza, sobrevivente do massacre dos Krahô empreendido pelos fazendeiros por volta de 1940.
A minha avó é sobrevivente de um massacre ocorrido em 1940, feito pelos não indígenas fazendeiros, que mataram vários Krahô. Na verdade, ao longo da história de contato com os não indígenas, sofremos vários massacres. Foram mortas centenas de pessoas. Nós éramos muitos e após esse massacre restaram poucos. Nós somos da tribo Mãkrarè, vivíamos em uma aldeia enorme, maior que a cidade de Carolina, Maranhão. Esse povo se espalhou e cada um levou seu nome, Mãkrarè, Kukoikamekra, Panrékamekra, eram vários que se espalharam, cada um desses povos atravessou o rio Tocantins e se espalhou. Dos Mãkrarè vieram os Krahô de hoje.
Minha avó tinha 10 anos quando aconteceu o massacre, ela estava lá. Nesse dia, as irmãs mais velhas estavam olhando as crianças mais novas em casa enquanto as mulheres estavam na roça. Vieram dois vaqueiros Cupen e deixaram um boi grande. Os homens Krahô estavam caçando para a festa do Ketuaie, a finalização do resguardo de três homens, duas mulheres e de várias crianças.
Os Cupen estavam dando o boi grande, falaram que era para reunirmos todos os Krahô para a festa. O boi era um presente. Nem todos entenderam e alguns não sabiam falar, mas vieram muitas pessoas. Os dois Cupen foram embora. No final da tarde, os Krahô mataram o boi. Eram seis horas da tarde, os caçadores chegaram, correram com a tora, tomaram banho. Depois, foram ao pátio cantar. À meia-noite, eles escutaram um tiro, as mulheres começaram a perguntar o que era aquilo, se eram os maridos de algumas delas. Mais tarde, de manhã cedo, escutaram outro tiro e, em seguida, foram vários tiros, um tiro perto do outro. Chegaram muitos Cupen, atirando nos Krahô, matando todo mundo, usando facão. E as pessoas começaram a correr para o mato.
Minha avó correu na direção de um Cupen chamado Corá, que conhecia minha avó. Ele falou para ela ir para a capoeira, onde tinha os pés de banana, pois a bala entra no pé de banana e iria esfriar, não iria matá-los. Corá deixou vários Krahô passarem no lado onde ele estava. Minha avó entrou na capoeira e ficou no meio do bananal. Ficaram escondidos o dia inteirinho, escutando o barulho das balas e dos gritos. Ela estava com três meninos pequenos que choravam baixinho, não sabiam se o pai e a mãe estavam vivos.
Depois de um dia, passou um tio dela que a reconheceu e perguntou espantado: “Vocês estão aqui, cadê sua mãe?”. Ela falou que não sabia onde estava sua mãe. O tio falou que eles tinham que ir embora. Todos os Krahô, das aldeias próximas, estavam fugindo com medo de novos ataques. Todos estavam indo em direção à serrona, para o “vão do inferno”, um lugar com muitos morros perigosos para se esconder. Todos se encontravam e fugiam. Ela levou um cesto com o pano para enrolar.
Eles ficaram um mês caminhando até chegar a esse local, ficavam escondidos de dia e caminhavam quando escurecia. Não faziam fogueira, comiam cru, viviam escondidos, calados, sem fazer barulho porque estavam sendo caçados pelos brancos. Eles tampavam as bocas das crianças pequenas para elas não chorarem. Havia um velho todo cortado de facão, e ele ficava quieto, não gemia para não serem descobertos. Quando chegaram à serrona, encontrou sua mãe, mas seu pai morreu, lutando no massacre.
Eles se comunicavam por meio de uma cabacinha que fazia um barulhinho. Quando alguém saía, retornava e fazia o barulho para avisar se havia algum perigo. Às vezes, eles voltavam às aldeias para pegar alguma panela e retornavam para a serrona. Quando eles iam às aldeias, viam muitas pessoas mortas e sentiam por não terem feito a cerimônia funerária. Alguns fazendeiros passavam em aldeias Krahô mais distantes do ataque e falavam que ali iria acontecer um massacre semelhante, diziam que eles deveriam fugir. Assim, essas terras foram ocupadas por fazendeiros. Foi o que aconteceu com a aldeia Pitoro. Os Krahô ficaram muito tempo na serrona.
Um dia, um padre de Pedro Afonso foi até a aldeia de alguns Krahô mais distantes do ataque e pediu para eles irem atrás dos sobreviventes. Esses Krahô entraram em contato com os sobreviventes e falaram para eles retornarem. Eles foram retornando e, com a ajuda do padre, reconstruíram outras aldeias, próximas ao local do massacre. Enterraram os mortos, os ossos, o que restou dos corpos. O padre falou que isso não iria acontecer mais, o SPI apareceu e fez a demarcação da Terra Indígena em 1945.
Após esse massacre, os Krahô não finalizaram a festa. A partir desse dia, os resguardos foram deixados de lado. Quase todas as crianças foram mortas. A partir desse momento, nos tornamos Krahô. A vida foi sendo retomada, mas nunca mais foi a mesma. Os saberes e cuidados com o corpo foram abalados. Depois desse massacre, tudo mudou, vieram as tecnologias, os serviços de saúde e educação que não respeitam o modo de vida dos Mehi. As pessoas não estão mais interessadas nos resguardos cotidianos que devemos viver. Os resguardos são pequenos momentos que não são vividos mais intensamente por todos.
Desde 1994, trabalho com educação junto ao meu povo. Quero construir uma escola do jeito do povo Krahô, quer dizer, com cara Timbira. Nossa educação é diferenciada, mas na prática isto nunca aconteceu. Como professora, acredito que a escola poderia se adequar e ter o aprendizado dos Cupen, que precisamos conhecer para lutarmos por nossos direitos e contra outros massacres, mas precisamos ser respeitados na nossa educação, que acontece quando se vivem os resguardos, quando se está no mato com os velhos e velhas.

Mulheres na corrida de tora, em formação para serem cantoras.
Creuza Prumkwyj Krahô
Educadora indígena Krahô. Diretora da Escola Estadual da Aldeia Nova, em Tocantins. Mestre em Sustentabilidade Junto aos Povos e Terras Tradicionais (MESPT), pela UnB.
Como citar
KRAHÔ, Creuza Prumkwyj. Mulheres-cabaças. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 11, p. 110-117, nov. 2017.