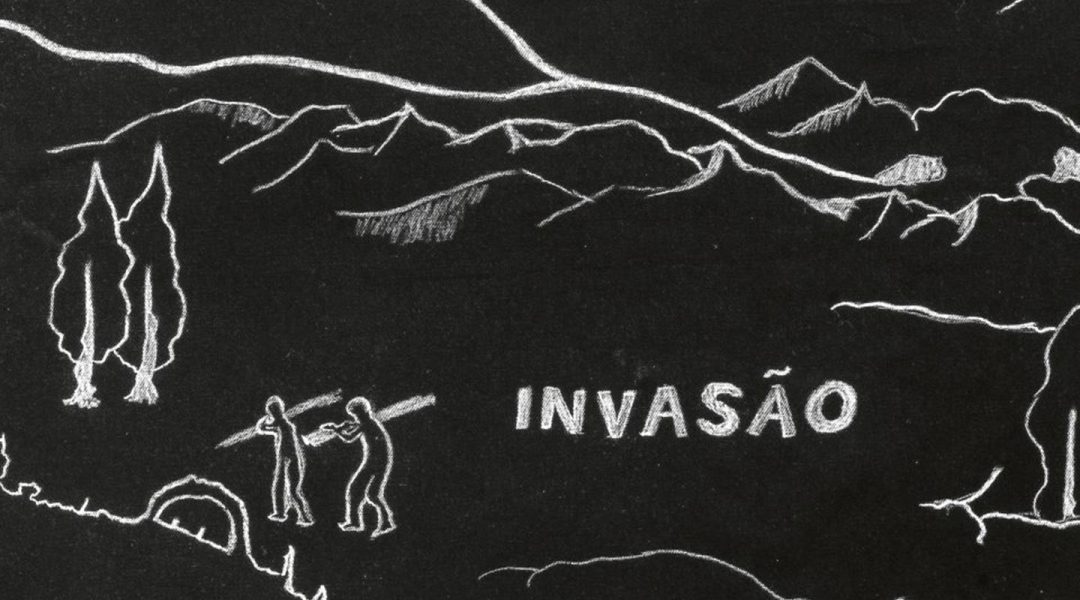
RECIPROPRIEDADE
Texto de Alexandre Nodari
Mercadores, desenho da série de Jaime Lauriano
Como diziam Raul Bopp e Oswald de Andrade, o Brasil é um grilo de 6 milhões de quilômetros quadrados talhado em Tordesilhas.
A ideia de Estado-Nação está conectada à de apropriação, ou melhor, à criação de um próprio – não só no sentido territorial, de demarcação de fronteiras, ou populacional, de decisão sobre os critérios de cidadania, mas também no campo do imaginário. Se a temática da nação, como vínculo direto entre nascimento e soberania popular, é relativamente recente, ela o é ainda mais no caso das chamadas nações periféricas, as ex-colônias. A questão a que elas devem responder, portanto, é: como afirmar um próprio se justamente a apropriação colonialista foi o método de negar, durante séculos, toda propriedade (em sentido amplo) às regiões do “Novo Mundo”? Como se amparar na mesma noção de propriedade?
O problema está longe de ser datado. Símbolo maior daquilo em que se converteu a esfera política brasileira, a construção de Brasília está impregnada dessa contradição: um projeto, previsto nas constituições do século XIX, levado a cabo no instante “modernizador” em que o país se financiava pela entrada das multinacionais de produção fordista. Ao descrever o Plano Piloto de Brasília, Lúcio Costa, em um gesto que o insere na mais canônica tradição modernista brasileira, afirma que seu projeto urbanístico para a construção da capital “nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz […] Trata-se de um ato deliberado de posse, de um gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial”.
Certamente, o que tinha em mente era algo como o descrito por Carl Schmitt em seu estudo sobre a colonização do Novo Mundo: o gesto de apropriação que fundaria o direito e a comunidade, a tomada da terra que implica contá-la, pesá-la e reparti-la. No entanto, esse ato fundador não é sem consequências: para não falar da operação estratégica de distanciar a capital das grandes manifestações, é necessário lembrar que foram excluídos do Plano Piloto justamente aqueles que traçaram a cruz – os operários-construtores da capital não a ocuparam, tendo sido empurrados para zonas afastadas, onde se formaram as cidades-satélites.
Dito de outro modo: se Guilherme de Almeida afirmava, na inauguração do marco histórico de Brasília, em 21 de abril de 1960, que “Aqui e agora é a Encruzilhada Tempo-Espaço”, ficaria claro, menos de uma década depois, nos versos de Torquato Neto musicados por Gilberto Gil, que, na verdade, “Aqui é o fim do mundo”. Novamente, a “tradição colonial” se manifestava.

A tomada das terras do Novo Mundo pelos conquistadores europeus veio acompanhada de uma diversidade de cerimônias de posse, que dariam legitimidade interna à ação das nações apossadoras. No entanto, a questão de base persistia: como poderiam tornar-se proprietários das novas terras se seus “donos”, os indígenas, amparados pela anterioridade de sua posse, negavam-se a transigir? Essa questão, em um primeiro momento, limitava-se à esfera do direito público, não tardando, com a colonização, a invadir o direito civil – em um cenário ainda atual, como se pode ver, no plano político, o destaque que os povos indígenas passaram a ganhar na discursividade político-institucional latino-americana, e, no “privado”, as demarcações de terras dos ameríndios, contestadas em nome de empreendimentos de mineração, usinas hidrelétricas, etc.
Talvez se possa dizer que todas as construções doutrinárias a respeito da incapacidade civil e da falta de organização política dos indígenas (devemos lembrar que o fato de os autóctones viverem “sem fé, nem rei, nem lei”, tão comentado pelos cronistas, não só levou a elaborações utópicas, mas também amparou e ampara o domínio em nome da “civilização”) serviram para evitar que a ausência de um fundamento ao sistema da propriedade colonizadora viesse à tona, deixando imaculada uma linha temporal da propriedade: não sendo sujeitos de direito, os indígenas não poderiam jamais ter sido donos daquelas terras que cabiam, então, a quem primeiro as ocupasse.
Assim, na constituição das nações periféricas está o princípio da (primeira) ocupação – tecnicamente, o instituto da invenção. O curioso é que, desde logo, a posse portuguesa foi contestada pela França, ancorada no princípio romano uti possidetis, ita possideatis. Portugal, por sua vez, invocaria o mesmo adágio para reivindicar a mudança das fronteiras traçadas pelo Tratado de Tordesilhas, o que resultou no Tratado de Madri, de 1750. Ou seja, o princípio jurídico mais usado para justificar as disputas por terras – quem ocupa continuará ocupando, ou ainda, quem possui de fato possui de direito – na verdade, revela a ausência de um direito à tomada da terra, bem como a pura força, o puro ato de posse pelo qual ela se dá. Levada ao extremo, a occupatio representaria a anomia total, a derrocada de toda propriedade jurídica, a indistinção entre (quem ocupa de) fato e (quem ocupa de) direito.
Daí toda uma tradição radical que afirma, com base em Proudhon, seu expoente mais conhecido, que a “propriedade é um roubo” – tradição que, para ficar com outros dois exemplos díspares entre si, engloba também José de Alencar, um defensor da escravidão, que argumentava estar a origem da propriedade no rapto das Sabinas, e o filósofo contemporâneo Roberto Esposito, para quem, no direito romano, o saque fundava a propriedade.

Em 2005, uma comissão de deputados federais criada para investigar os conflitos no campo – a CPI da Terra – aprovou um relatório, elaborado por políticos ligados à União Democrática Ruralista, que sugeria a criação de dispositivos legais equiparando as invasões de terras por grupos de sem-terra aos crimes hediondos. Nunca é demais ter em mente que a própria Lei de Crimes Hediondos foi aprovada graças à pressão midiática que se seguiu ao sequestro e morte da filha de Glória Perez, autora de novelas globais. A sugestão da bancada ruralista remonta àqueles “contextos jurídicos primitivos” de que fala Walter Benjamin, em que a pena de morte era “decretada também no caso de delitos contra a propriedade, em relação aos quais parece totalmente ‘desproporcional’”.
E sob a perspectiva do ensaio benjaminiano sobre a violência, essa desproporcionalidade ganha contornos mais nítidos: não se trata de coibir um ato contrário ao ordenamento, pois a ação do Movimento dos Sem Terra, ao invadir fazendas improdutivas, persegue um fim jurídico (neste caso, até mesmo constitucional), a função social da propriedade; antes, é a própria ação política que está sendo combatida.
A desproporcionalidade se explica ainda melhor se levarmos em conta que ela se dá em defesa da propriedade, pois em nenhum outro instituto jurídico fica tão nítida a função de interdição e de fronteira – nela, o traçar limites é físico, material. A desproporcionalidade – ou, melhor dizendo, excepcionalidade, uma vez que consiste em igualar as invasões do MST a atos terroristas contra o Estado – não é casual, visto que permeia todo o nosso Código Penal, cujas sanções mais graves, excetuadas aquelas relacionadas aos crimes contra a vida, são impostas aos delitos contra o patrimônio (privado, pois as punições a crimes contra a coisa pública são esdrúxulas).
Essa posição central da propriedade privada, portanto, talvez se dê pelo fato de que ela concentra, como uma espécie de arquifenômeno originário, toda a estrutura do Direito, a saber: a separação. Toda a noção moderna de propriedade fundamenta-se sobre a divisão entre sujeito possuidor e objeto possuído, homem-sujeito e natureza-objeto. De fato, o capitalismo tem o seu pontapé inicial com os cercamentos de terra, dividindo os homens entre proprietários e proletários, donos somente de sua força de trabalho, isto é, de uma parte cindida de si mesmos.
Assim, se a pura força – a ocupação, a detenção – funda a propriedade (ou, em termos mais gerais, se a ação humana funda o Direito), em um passo ulterior (que não é necessariamente cronológico), ela se sublima, juridificando-se: a posse convertida em direito de propriedade se torna uma arma contra outras futuras ocupações, ou seja, o Direito barra a ação política. O apossamento não terá validade per se, se a ação humana não se converter em fato jurídico mediante um ritual de sublimação, materializado na cerca, no estabelecimento de fronteiras e no título de propriedade.

Na esteira das comemorações pelo centenário da Independência, esses problemas (re)afloraram com os movimentos modernistas, como a Antropofagia, que tinha entre seus integrantes, além de Oswald de Andrade, Raul Bopp, Pagu, Geraldo Ferraz e Clóvis Gusmão, que já defendia a biomassa, e o jovem jurista Pontes de Miranda. Na edição de 4 de julho de 1929 da Revista de Antropofagia, há uma nota com o título “O Direito Antropofágico”, acompanhada de desenho de Cícero Dias, informando “que o jurisconsulto Pontes de Miranda, tomando a frente dos pioneiros da Escola Antropophagica, lançará, dentro de pouco tempo, as bases para a reforma dos códigos que nos regem actualmente, substituindo-os pelo direito biológico, que admitte a lei emergindo da terra, à semelhança das plantas”.
O mesmo Pontes de Miranda aparecerá em notícia do número seguinte do periódico, na lista dos que participariam da elaboração da maquete do “Primeiro Congresso Brasileiro de Antropofagia”. O congresso, a ser realizado em “fins de setembro” daquele ano no Rio de Janeiro, apresentaria algumas teses que seriam debatidas e convertidas “em mensagem ao Senado e à Câmara, solicitando algumas reformas da nossa legislação civil e penal e na nossa organização político-social”:
I – Divórcio; II – Maternidade consciente; III – Impunidade ao homicídio piedoso; IV – Sentença indeterminada. Adaptação da pena ao delinquente; V – Abolição do título morto; VI – Organização tribal do Estado. Representação por classes. Divisão do País em populações técnicas. Substituição do Senado e Câmara por um Conselho Técnico de Consulta do Poder Executivo; VII – Arbitramento individual em todas as questões de direito privado; VIII – Nacionalização da imprensa; IX – Supressão das academias e sua substituição por laboratórios de pesquisas.
Pelas teses a serem apresentadas (e pela forma com que seriam, em mensagem ao congresso), fica evidente quão pouco restrita à literatura a Antropofagia se apresentava: de fato, são todas teses de teor político-jurídico. Infelizmente, o congresso não chegou a se realizar, tendo a Antropofagia se dissolvido antes disso. No entanto, a quinta das teses propostas – a abolição do título morto, ou seja, da propriedade que não se usa, que não se ocupa de fato – condensava grande parte do ideário do movimento: o “Direito Antropofágico”, a “teoria do grilo”.

Desse modo, quando os antropófagos decidem revisitar a história da ocupação portuguesa do Brasil, encararam-na como uma apropriação amparada numa falsificação: “Não fosse o Brasil o maior grilo da história constatada!” (grilo duplo: tanto dos autóctones e, depois, de território pertencente à Espanha), escreve Oswald na Revista de Antropofagia. E se Raul Bopp realça a importância dessa leitura em todo o ciclo antropofágico, sendo ela o ponto de partida do que ele denomina a terceira fase do movimento, o “Esquema ao Tristão de Athayde”, escrito por Oswald, constitui, provavelmente, a formulação mais acabada da “teoria do grilo”:
“Saberá você que pelo desenvolvimento logico de minha pesquiza, o Brasil é um grilo de seis milhões de kilometros talhado em Tordesilhas. Pelo que ainda o instincto antropofagico de nosso povo se prolonga até a secção livre dos jornaes, ficando bem como symbolo de uma consciencia juridica nativa de um lado a lei das dozes taboas sobre uma caravella e do outro uma banana. […] O facto do grilo historico, (donde sahirá, revendo-se o nomadismo anterior, a verídica legislação patria) affirma como pedra do direito antropofagico o seguinte: A POSSE CONTRA A PROPRIEDADE”.
Curiosamente, cerca de um terço do texto do “Esquema” é extraído, “grilado” poderíamos dizer, de uma carta de Raul Bopp ao psiquiatra Jurandyr Manfredini, que a publicou na última de uma série de crônicas antropófagas, em 2 de setembro de 1928, na Gazeta do Povo, de Curitiba. Antes da passagem, citada por Oswald, Bopp apresentava o “club de Antropophagia”, que também chamava de “movimento antropophagico”, conclamando Manfredini a participar dessa “Phase de construcção” que busca “estudar a precariedade do direito manuelino, etc. em face da antropophagia – o grillo – isto é, a posse contra a propriedade. Isso que é a verdade… O grillo contra a herança dos latifúndios. O Brasil é um grillo. O papa dividiu o mundo em 2 fatias com a linha das Tordesillias. Comemos o resto do Território. Ahi está a lição do nosso direito. Devemos nos plasmar nessas origens históricas”.
A partir da publicação do “Esquema”, “a posse contra a propriedade” aparece constantemente na Revista, com outra “palavra de ordem” do “movimento”: a “transformação do tabu em totem”. Por mais que os antropófagos falem em um Direito – como numa referência a Pascal no “de antropofagia”, na edição de 24 de março de 1929, em que lemos sobre “o direito soberano da posse” –, a expressão sempre vem acompanhada de uma negação da juridicidade. Assim, por exemplo, no “de antropofagia” assinado por Oswaldo Costa: “A posse contra a propriedade. […] Nenhuma convenção social”. Em uma entrevista dada por Oswald, isso fica patente quando, num jogo de palavras, duas acepções, dois tipos de lei, se contrapõem:
“O direito antropofágico tem as suas razões nas leis cósmicas que nos condicionam. A lei da gravidade nos garante a posse de um pedaço do planeta, enquanto vivermos. Disso à noção de propriedade, de título morto, de latifúndio e de herança, nunca! Somos contra tudo isso. Mas a posse é respeitável […]. Não fosse o Brasil o maior grilo da história – um grilo de milhões de quilômetros talhados no título morto, de Tordesilhas”.
A “posse de um território” garantida pela lei da gravidade, conforme aponta Beatriz Azevedo, é necessariamente “transitória, nômade, diga-se, já que ao nos movimentarmos essa ‘lei’ irá conosco”, não se enrijecendo no direito de propriedade, pelo contrário, garantindo a posse mesmo contra um título morto. Mas como entender que se possa voltar a posse, estrategicamente, contra a propriedade, se aquela, na forma da ocupação, é origem desta?

A posse talvez seja o instituto jurídico mais difícil de definir: nas palavras de José de Alencar, “no seio deste labirinto” até mesmo a “metafísica sutil da jurisprudência” se perde (e dificilmente, para ficar no nome mais conhecido, Oswald, como bacharel de Direito, não teria percebido isso).
Definir juridicamente a posse implica distinguir o momento em que o direito toca a vida: por isso, a interminável discussão jurídica em torno do seu estatuto – se é fato ou se é direito –, ou melhor, a respeito de como uma apropriação física produz consequências jurídicas e gera direitos, discussão que rendeu diversas soluções legislativas e proliferação de parainstitutos legais. Tudo isso é, na verdade, um debate metodológico sobre o Direito, ou melhor, um debate ontológico que busca definir a relação entre a esfera jurídica e a vida.
Trata-se de decidir quando a ocupação, a detenção, a apropriação, ou de que outro modo se queira chamar a posse, se convertem em propriedade – e a insolubilidade da discussão revela que só por meio de uma ficção (a ficção jurídica, a ficção do Direito) é possível esse trânsito. Toda propriedade não passa de um grilo. No entanto, na base dessa ficção está justamente a negação de uma experiência singular com a coisa. É isso que a cerca, o limite, a fronteira fazem: ao converter a posse em propriedade, transformam o outro em próprio, incorporando-o ao patrimônio, negando a sua alteridade como ente singular. Pois o direito de propriedade, como domínio sobre a coisa, consiste no direito de usar e abusar dela, isto é, utilizá-la, mas também destruí-la, vendê-la, aliená-la. Mas não haveria outra forma de se relacionar com os espaços, coisas e seres que são o mundo?
Uma variação da proposta de “abolição do título morto” elaborada pelos antropófagos consistia no “contato” com ele, e com o “objeto” de que ele seria título de propriedade, a saber, a terra. Contudo, não se tratava apenas de indicar um uso efetivo do território, pois este não aparecia como algo passivo a ser ocupado sem mais; pelo contrário, a terra era definida como “Agressiva. Bárbara”, “boiando nas lendas da cobra grande e ainda com aquele imaginário fio umbilical que prendia ao yperungaua que é o princípio mais longe de todas as coisas”. Ou seja, uma terra conectada ao princípio (no duplo sentido) mítico (yperungaua é um termo tupi que serve de marcador do tempo originário), em que tudo era sujeito: “No princípio […] Não havia animais; todas as coisas falavam”, lemos em um mito tupi a partir da versão consignada e traduzida por Couto de Magalhães.
Assim, a teoria da posse contra a propriedade apresentava outro modelo de ocupação, alheio àquele que funda o que é próprio, seja juridicamente no plano civil, seja politicamente no plano da identidade e do território nacionais. Um modelo em que seria necessário transigir com a terra, fazer contato com ela – e o toque é, por excelência, um sentido recíproco, em que sujeito e objeto, agente e paciente, quem toca e quem é tocado, são reversíveis. A “lição do nosso direito” não terminava com a grilagem portuguesa e colonial; antes, ela demandava e demanda ser aprofundada na experiência ameríndia, em que a própria ideia de propriedade e sua separação constituinte se colocam em xeque.
Ocupação tradicional é o nome dado à relação que os povos originários – justamente aqueles que tiveram suas terras ocupadas para a constituição colonial e da Nação – mantêm com o território que habitam e seu ambiente, bem como os seres que o compõem. Aqui, todavia, a posse ou ocupação não deriva em propriedade, não só porque o Estado assim o determina, mas também porque a própria concepção dos povos originários parece apontar para uma relação de outro tipo.
Desse modo, por exemplo, a jurista americana Carol Rose, comentando uma decisão da Suprema Corte americana do século XIX sobre a disputa territorial entre indígenas e brancos conquistadores, afirma que “Ao menos alguns indígenas manifestavam estranhamento à ideia de propriedade da terra. De fato, eles se orgulhavam não de marcar a terra, mas ao contrário, de se movimentar suavemente por ela, vivendo com a terra e com suas criaturas como membros da mesma família, e não como estranhos que apareciam apenas para conquistar os objetos da natureza. A doutrina da primeira posse, muito ao contrário, reflete a posição de que os seres humanos são exteriores à natureza. Ela concede a terra e suas criaturas àqueles que as marcam de modo tão claro que as transformam, para que, assim, ninguém as tome por natureza não subjugada”.
Esse estranhamento com respeito à noção ocidental de propriedade e suas cercas, mais do que apontar para uma harmonia com o mundo, revela que a relação em jogo não é a da subjugação de um objeto por um sujeito, e, sim, uma relação intersubjetiva com animais, plantas, espíritos, lugares, os quais se situam em uma mesma família ontológica que os homens, com os quais possuem parentesco existencial (o que, evidentemente, não quer dizer ausência de conflito: família não é sinônimo de paz). A relação, portanto, não é de propriedade: os índios não são donos da terra como um latifundiário é dono de seus hectares, cujo solo ele destrói pela monocultura de soja. Pois lhes falta a possibilidade de destruir, vender, alienar (o direito de abuso), não só de um ponto de vista jurídico, como também por uma escolha de ordem político-ontológica: a falta é acima de tudo uma recusa – não uma posse sem propriedade, mas uma posse contra a propriedade.

Na ocupação dos povos originários se afigura algo como uma “possessão recíproca, […] de todos por cada um”, para usar a expressão de Gabriel Tarde, uma recipropriedade entre sujeito e “objeto”, ou melhor, entre sujeitos. Se, como afirma Eduardo Viveiros de Castro, “os índios são parte do corpo da Terra”, participam do corpo da terra, é por isso também que eles têm o direito de ocupá-la, sem constituí-la em propriedade. Pois a relação que está em jogo, antes de ser de domínio, talvez seja de cuidado, no sentido ambivalente contido na afirmação recente de Ailton Krenak sobre a necessidade de se ter um “cuidado com o mundo”: precisamos ter cuidado com o mundo porque ele é frágil e podemos destruí-lo, mas também, e ao mesmo tempo, precisamos ter cuidado com o mundo porque ele é perigoso e pode se vingar das nossas ações. Tal ambivalência do cuidado parece ser uma possível expressão da relação de muitos povos indígenas com os seres, as coisas, os espaços: é preciso cuidar deles e tomar cuidado com eles, pois, não sendo totalmente estranhos nem totalmente próprios, são tão frágeis quanto perigosos.
Em sentido contrário, a ocupação que caracterizou e caracteriza a Conquista do Novo e do Novíssimo Mundo (numa invasão que continua pela expansão da fronteira agrícola, a mineração e barragem de rios em terras indígenas), na medida em que se converte em propriedade e opera por meio do limite (as cercas, os muros, as marcas a ferro no gado), visa também a cindir o cuidado. Do que nos é próprio, nós cuidamos, porque é frágil; por outro lado, devemos ter cuidado com o que é dos outros, estranho, porque é perigoso – pular o muro de uma casa alheia pode nos eletrocutar.
Além disso, cuida-se do que é próprio para não ter que tomar cuidado com ele: daí o status quo não cessar de se pré-ocupar com os jovens “desocupados”, visando a dar-lhes uma ocupação, ou seja, um trabalho, um emprego, o atravessamento invasivo da vida pelo capitalismo, a transformação de pessoas (sujeitos) em proletários (objetos, força de trabalho). Ocupam-se os jovens talvez para que estes não ocupem as suas casas e instituições.
E aqui chegamos a outra forma de ocupação que não parece ser dessa ordem, que parece ser contra essa ordem, e que, em alguma medida, se aproxima daquela dos povos originários, a saber, a estratégia política das ocupações contemporâneas – de terra, de prédios, de escolas e instituições –, as quais talvez revelem pistas de como voltar a posse contra a propriedade e sobre a atualidade política da crítica antropofágica. Pois, nas ocupações políticas, não se trata de querer dominar, mas de propor, no gesto da ocupação, outra forma de se relacionar, seja com a terra, seja com a moradia, seja com as instituições, que não seja uma relação de propriedade com seu direito de abuso.
Assim, por exemplo, os secundaristas que ocuparam recentemente os espaços educacionais não querem que as escolas recaiam sob o seu mando, mas tampouco querem passivamente obedecer e sofrer o mando tutelar. Os estudantes, por serem parte da escola, também a constituem, e é esta reciprocidade, esta recipropriedade que está em jogo nas ocupações: por muito tempo, foi apenas a escola (e o aparato educativo) que ocupou a vida dos jovens para que estes arranjassem uma ocupação. E agora, esses “desocupados” decidem ocupar aquilo que os ocupa, tornando-a aquilo de que se ocupam. Eles propõem tomar cuidado: cuidar das escolas, das instituições, mas também tomar cuidado com o poder repressivo e limitador que elas encarnam. E, em sua insurgência, eles nos dão o exemplo de que todo cuidado é pouco.
Alexandre Nodari
Professor de teoria e crítica literária na Universidade Federal do Paraná e fundador do species – núcleo de antropologia especulativa.
Jaime Lauriano
Artista, foi vencedor do 20º Festival de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil e do 6º Prêmio Marcantonio Vilaça. Integra as coleções Pinacoteca-SP, MAR-RJ e Schoepflin Stiftung.
Como citar
NODARI, Alexandre. Recipropriedade. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 12, p. 26-35, ago. 2018.